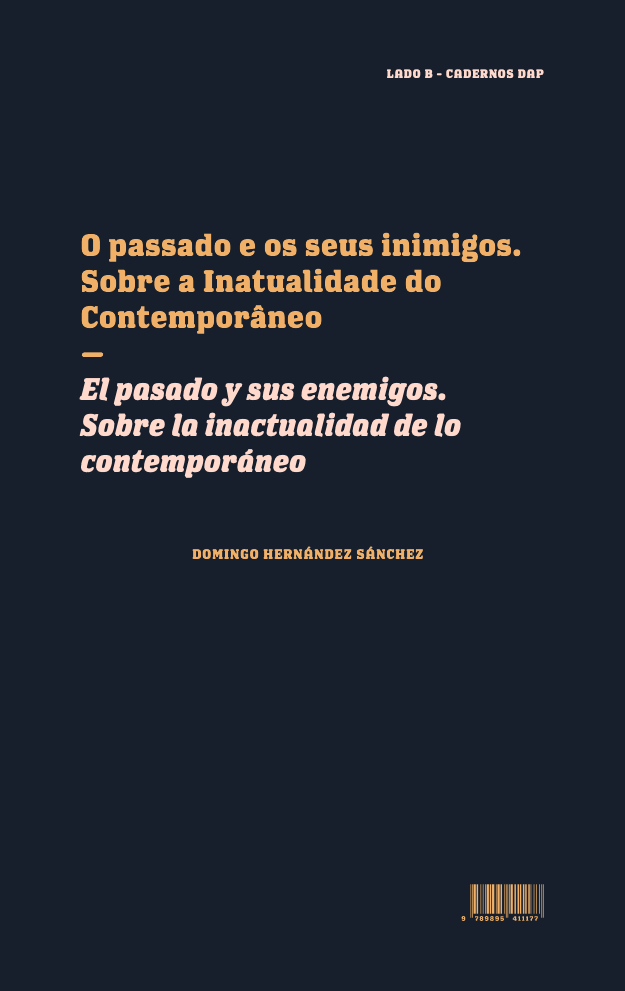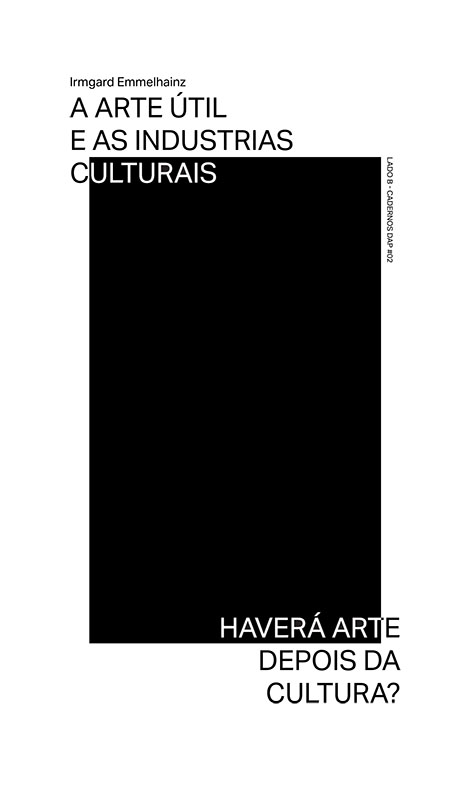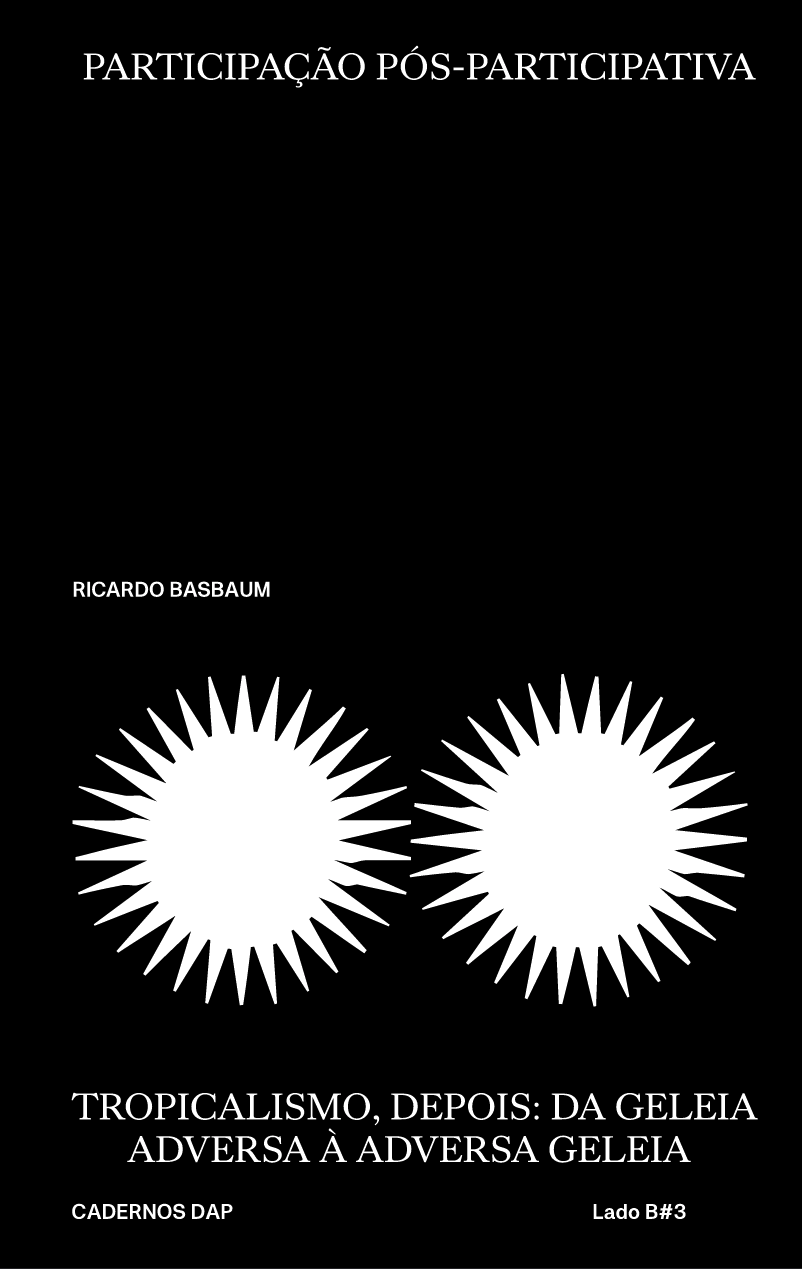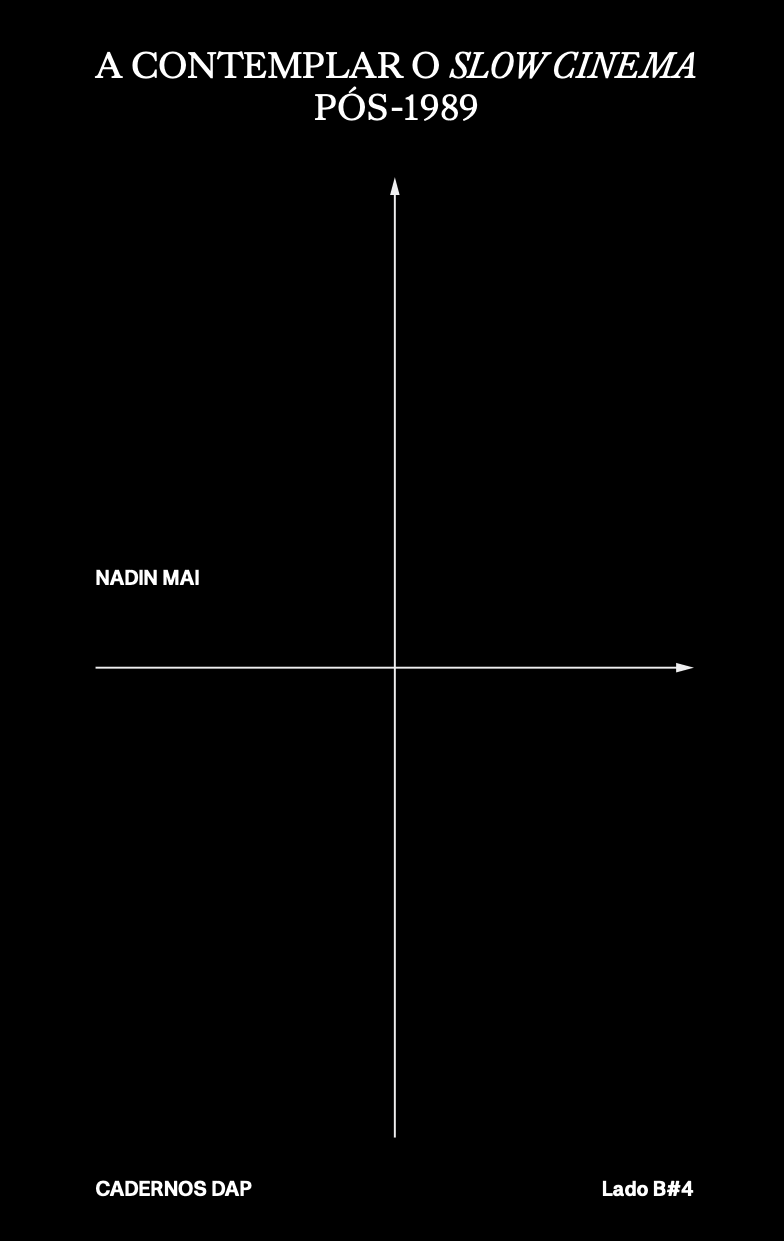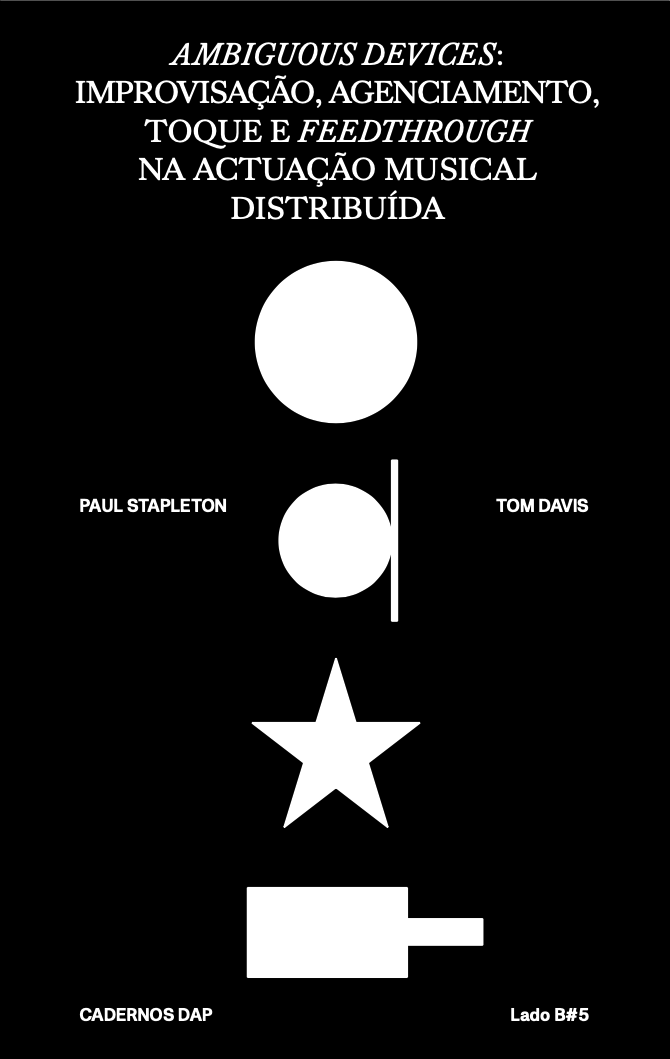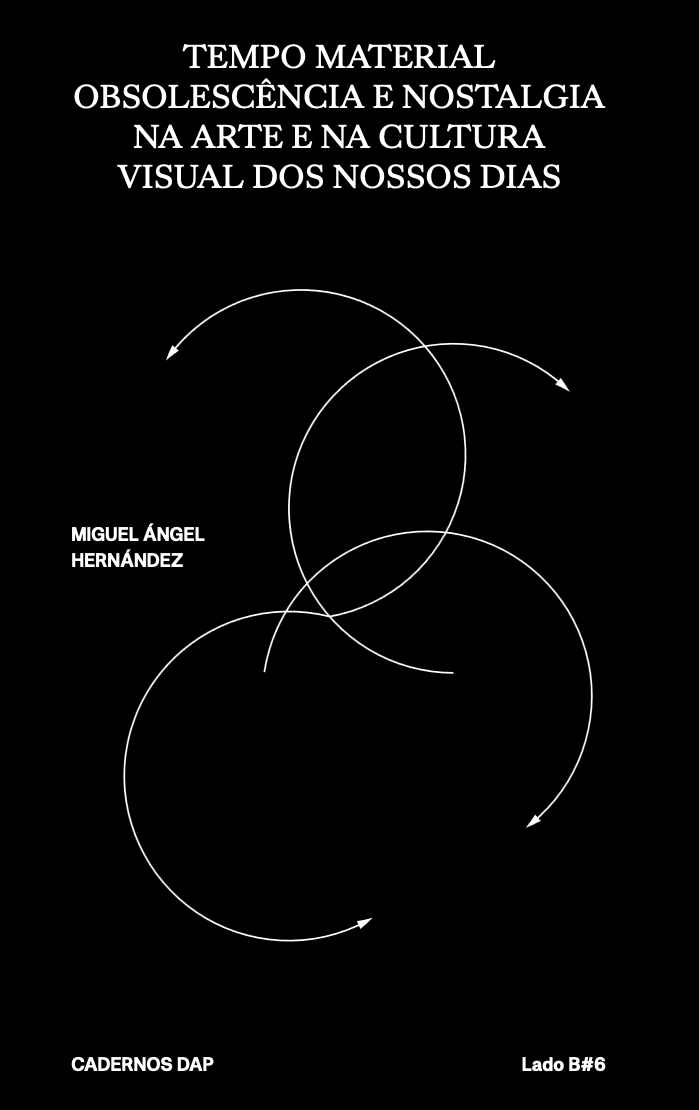
book
Lado B #6 — Miguel Ángel Hernández
Vivemos num mundo acelerado, num universo veloz e instantâneo que comprime o tempo e o espaço. As distâncias anulam-se e o tempo desaparece. Pelo menos é isso que nos dizem do presente.
- Edição
- Fernando José Pereira
- Ano
- 2023
- isbn | issn
- 978-989-9049-30-7
- doi
- https://doi.org/10.34626/2023/978-989-9049-51-2
Pensar o tempo como elemento decisivo da prática artística contemporânea tem sido um dos eixos de trabalho de alguns artistas. Nas suas práticas, o questionamento do Tempo e, sobretudo, da duração impõem-se como “intérpretes” decisivos para o entendimento de um contexto que se apresenta em forma adversa. O tempo contemporâneo tornou-se maquínico, ultrapassou, se assim se pode dizer, o “natural” tempo concebido pelos humanos. E esta é uma questão que está a produzir consequências complexas na sociedade contemporânea.
O nosso tempo, sem tempo, é uma condição que se encontra num processo de naturalização, quer dizer, que descobre na realidade um aliado e não algo que lhe resista. A realidade actual é um laboratório em que os intervenientes se encontram anestesiados e, por isso, mantêm com ela uma relação deslumbrada. O deslumbramento, como sabemos, provoca uma espécie de cegueira, boa, digamos assim, para o próprio, enquanto o efeito da anestesia se mantém activo… depois, o acordar pode ser tudo menos agradável.
O texto que agora publicamos quer posicionar-se num território exterior à anestesia. Quer, por isso, trazer a hipótese do tempo…outra vez. Recuperar as camadas constitutivas do tempo equivale a considerar o passado, o presente e o futuro.
Talvez, por isso, possamos considerar o Tempo como o elemento político decisivo para os artistas e para as obras que querem, de forma deliberada, olhar para a realidade sem preconceitos, sem conexões exteriores de agendas políticas ou de modas.
A paralisia em que se transformou a contínua anestesia a ser administrada a toda a sociedade veio acelerar uma constatação que, contudo, não é nova. Bem pelo contrário. Uma revista espanhola, editada em papel e de reconhecido valor editorial, chamada Archipiélago tinha no seu número duplo 11/12 de 1992 um título belíssimo que é relacionado com o que hoje nos defrontamos plena e criticamente: “Pensar o tempo – pensar a tempo”.
Assistimos a um incremento da captura por parte da contemporaneidade neo-liberal desta posição que, no entanto, na época da publicação era resistente. Talvez tenhamos, mesmo, de inventar uma palavra similar de outras já existentes para esta operação: timewashing. Já temos a slow food, a slow voyage, a cidade de Évora ganhou a sua candidatura a Capital Europeia da Cultura com o slogan, abrandar o passo… ao que acrescentaremos, no interior das práticas artísticas, o slow cinema (já com secções, inclusive, nas plataformas de streaming num inusitado paradoxo operativo: estas plataformas precisam de ser as mais rápidas para poder operar com qualidade as imagens do cinema lento…) e a slow painting, como se anunciava uma review na revista britânica Frieze a propósito de uma exposição. Ora esta neutralização compulsiva complica as estratégias a serem usadas pelos artistas. Sabemos bem que o capitalismo na sua conformação camaleónica a tudo se adapta para tudo poder dominar. O tempo e a sua problemática existência no nosso tempo não seriam, por isso, excepção.
Será, talvez, em consequência desta situação que a questão central, hoje, se coloca, já não na lentidão, mas na duração.
É este o elemento que ainda se encontra fora. Que ainda se encontra numa situação de relativa independência. Talvez, pela sua inconformidade com um tempo que o não permite.
Vivemos hoje dias impacientes, dias de rodopio constante. Tornámo-nos impacientes com tudo. Obviamente, com a arte e as suas práticas também.
E, mesmo com todo este contexto, como muito bem refere Peter Osborne, continuam a existir artistas a produzir obras que desde a sua realização até à sua plena fruição se constituem de forma deliberada como absolutamente aborrecidas, super boring, nas suas palavras. Mas este aborrecimento é, como sabemos, absolutamente subjectivo e, por isso mesmo, a sua quantificação será sempre problemática. Num tempo que tudo quantifica, surge, então, um impedimento operativo. Daí que seja mais adequado, então, colocarmos a tónica já não na quantificação, mas, antes, na sua qualidade. Aparentemente é de um paradoxo irremediavelmente insolúvel que aqui se trata: classificar a qualidade do aborrecimento e, contudo, esse é um exercício a que algumas obras nos remetem inevitavelmente.
Um exemplo seminal e já com algumas décadas de existência pode trazer alguma luz a esta questão: a série de obras de Tony Conrad intitulada “Yellow Movies”realizadas nos já longínquos anos setenta do século passado (1972-1974) têm no seu âmago a ideia nuclear de duração: em papéis de fraca qualidade, pintados com tintas de ainda mais fraca qualidade, são realizadas imagens que configuram o “frame” da película cinematográfica. Não é inocente a escolha, por parte do artista, desta forma icónica da imagem movimento/imagem tempo. Por decisão própria, a fraca qualidade dos pigmentos utilizados tem vindo a ter uma interferência directa na sua relação com o tempo. As imagens que hoje vemos nada têm a ver com as originais: aparecem com as cores empalidecidas ao contrário da potência cromática que tinham no seu início. Uma relação, portanto, do cromático com o cronos. E essa relação só pode ser observada pela sua longa duração. Tal como num filme, o tempo vai introduzindo modificações na narrativa que estas imagens corporizam. É disso mesmo que aqui se trata: da modificação formal que a cor/pigmento sofre com o tempo alongado da sua existência. Ao contrário da perenidade, antes pretendida, aqui o artista fornece-nos uma acção de movimento/tempo contínuo que é visível e activa, e, no entanto, aparentemente, passiva.
Da nossa actualidade, um exemplo recentíssimo: a nova obra do artista britânico Steve McQueen intitulada “Grenfell”. Trata-se de uma obra videográfica com uma duração aproximada de vinte minutos. Lembremos, para que fique claro, que uma das últimas obras de McQueen tinha treze horas de duração, o que confirma a opção, não pela quantificação, mas, antes, pela qualidade. Estes vinte minutos da obra de McQueen têm o peso de anos das memórias colectivas dolorosas em torno da tragédia da torre retratada no vídeo e desaparecida pelo incêndio que a consumiu. A estratégia do artista centra-se na opção de Osborne: um primeiro plano completamente negro que, nas palavras de um crítico de arte, se mantém por muito mais tempo do que aquele que é expectável… depois as imagens; primeiro, de uma paisagem urbana ainda longínqua acompanhada dos seus sons característicos em confronto com sons da natureza que ainda vemos. Com a aproximação ao objecto, o silêncio, apenas. Grande parte do tempo do visionamento do vídeo é feito no mais estrito silêncio.
O silêncio torna-se, assim, num interveniente atuante para o desejado espessamento da narrativa, num elemento fundamental para espoletar o que tenho vindo a designar por contemplação activa no âmbito da noção de par(a)gem. Uma condição inoperativa (como afirma Agamben) para a passividade da impaciência que se transfigura, sempre, como absoluta actividade.
Esta inoperatividade refere-se a uma possível desactivação suspensiva da paragem. É, mais que tudo, um desejo. Uma constatação de que a paragem não é, de todo, uma actividade passiva. A sua desactivação inoperativa introduz-lhe elementos que a estruturam de forma diferenciada.
Trata-se, portanto, de uma paragem que quer activar o sensível. A sua principal ferramenta será, por isso, como vimos, a duração. Esta afirma a resistência ao tempo sem tempo, à compressão temporal maquínica que tudo nivela e que, sobretudo, instaura a já designada impaciência generalizada. Sabemos que nada disto é novo, que existem exemplos, muitos, por parte de toda uma torrente de artistas que ao longo das últimas décadas têm explorado esta opção. Aquilo que ambicionamos é contribuir, à nossa dimensão, para esta contínua e já longa chamada de atenção. Sabemos, contudo, que as condições se agravam e que a impaciência se alarga quotidianamente a novos e amplos territórios em que o sensível não consegue, de forma alguma, escapar. Bem pelo contrário.
Daí a existência de um fazer saber artístico que tão bem é analisado no texto deste pequeno, mas, importante livro, e que se baseia numa lógica construtiva que induz à contemplação e, portanto, à duração. E, no entanto, como vimos, num mundo organizado em forma contrária, isto é, num contexto de aceleração, a duração, na sua intrínseca necessidade de atenção constante (lembremos a noção de deep listening) imiscui-se em temporalidades distantes da aceleração linear do tempo contemporâneo. Introduz-se sub-repticiamente numa posição de princípio, absolutamente politizada, ao potenciar uma outra fruição do tempo, distante da ideia do tempo efémero do evento, ou mais radicalmente, ainda, longe de qualquer lógica afectada pela ordem primeira do capitalismo tardio: a mercantilização e comercialização (com obsolescência programada e cada vez mais comprimida) de toda a realidade.
A noção actual de moderno nada tem a ver com o moderno que aqui vimos falando, por exemplo, na figura do artista multifacetado Tony Conrad.
Talvez uma das tarefas necessárias neste tempo sem tempo contemporâneo (moderno) seja desmodernizar como afirma a teórica Irmgard Hemmelainz, quer dizer, voltar a um tempo humano que afaste a desrealização das temporalidades maquínicas (essencialmente digitais) fascinadas com a instantaneidade reinante e anestesiadora. Voltar a um tempo que se materialize.
Este é, por isso também, um livro absolutamente desanestésico.1
Fernando José Pereira
1 Desanestesia é um termo inventado a partir da etimologia da palavra anestesia, ligada, originalmente, na Grécia Antiga à negação da beleza. No século XIX ganhou outra significação que ficou até hoje: a negação da dor. A desanestesia institui-se através da desocultação da beleza como possibilidade para a desocultação da dor.
Sobre Lado B
Num passado que já parece longínquo, em plana vigência analógica, os grupos musicais pop editavam com frequência os chamados singles. Aí colocavam a música que lhe parecia mais talhada para o sucesso imediato e, logicamente, numa intencionalidade mainstream esta era divulgada e massificada intensamente. Como todos recordam os discos analógicos tinham dois lados (hoje aí estão outra vez…) um denominado A e o outro, denominado B. O carácter secundário do outro lado permitiu, também, que parte importante da experimentação avançada pelos intervenientes activos de então aí fosse colocada. A lógica era simples, só os mais curiosos e atentos iriam virar o disco e escutar o outro lado, o lado B. O tempo veio colocar em destaque toda essa vertente experimental e de risco. Não são raros os casos em que a recuperação se faz exactamente a partir das músicas impressas no lado B. O outro lado aparece, hoje, como o mais interessante, longe da assimilação e trituração comercial a que foram sujeitos os lados A. O seu distanciamento e natural obscurecimento perante os spotlights, apontados ao lado principal, preservaram-nos e trouxeram-nos até nós, hoje ouvintes digitais, como obras primeiras. A metáfora aqui apresentada pretende, antes de mais, ser um ponto de partida para uma reflexão mais aprofundada sobre a premência do deliberado afastamento a que se remetem algumas obras e textos. A sua permanência ausente da crista da onda (metáfora analógica, mas com intencionalidade digital) permite-lhes um grau de risco e de experimentação que não é passível de ser realizado em sistema de recepção mainstream. É sobre eles que queremos reflectir, sobre a sua necessária lucidez, que as protege e distingue da torrente de acomodação e deslumbramento, fundamento último para a sua existência enquanto obras ou textos que querem resistir à actual voracidade e velocidade do novo. Sem intuitos morais de representantes oficiosos de qualquer tempo ou tecnologia, apenas como obras ou textos.