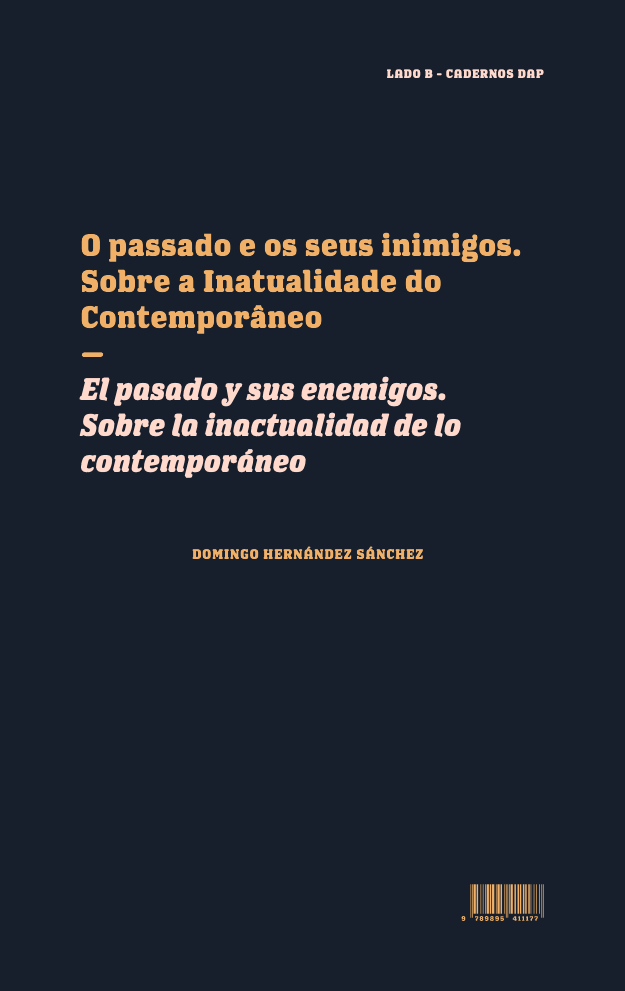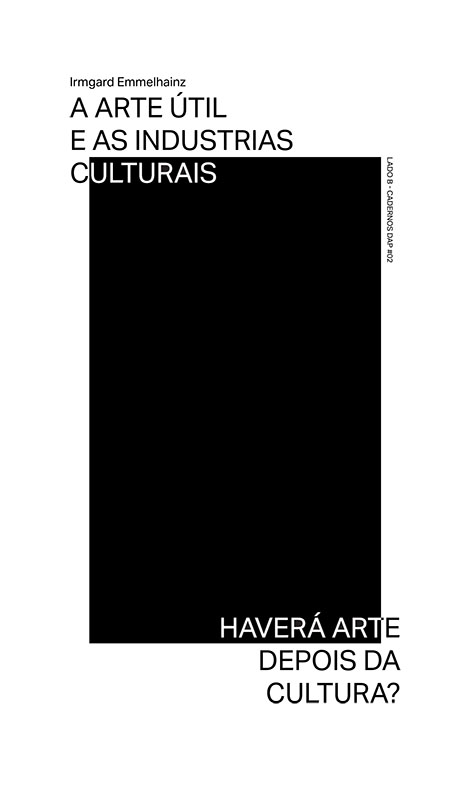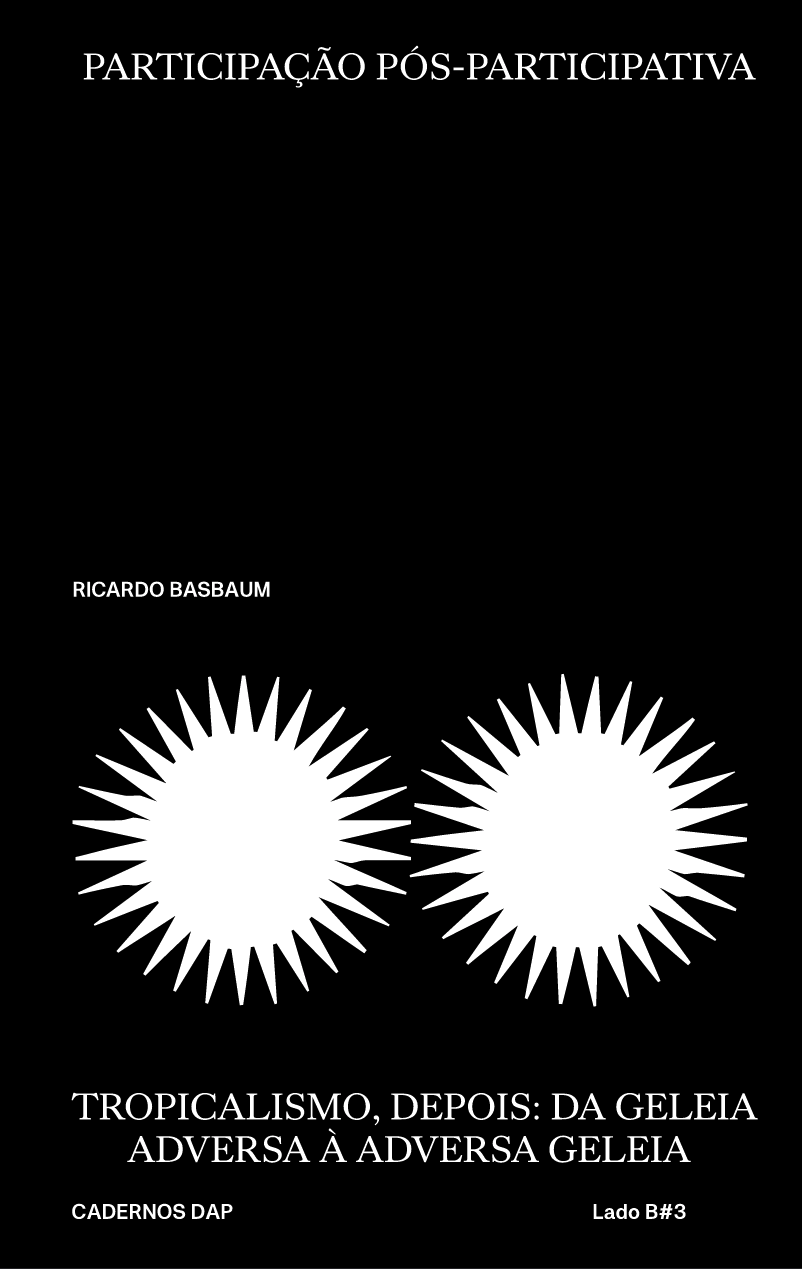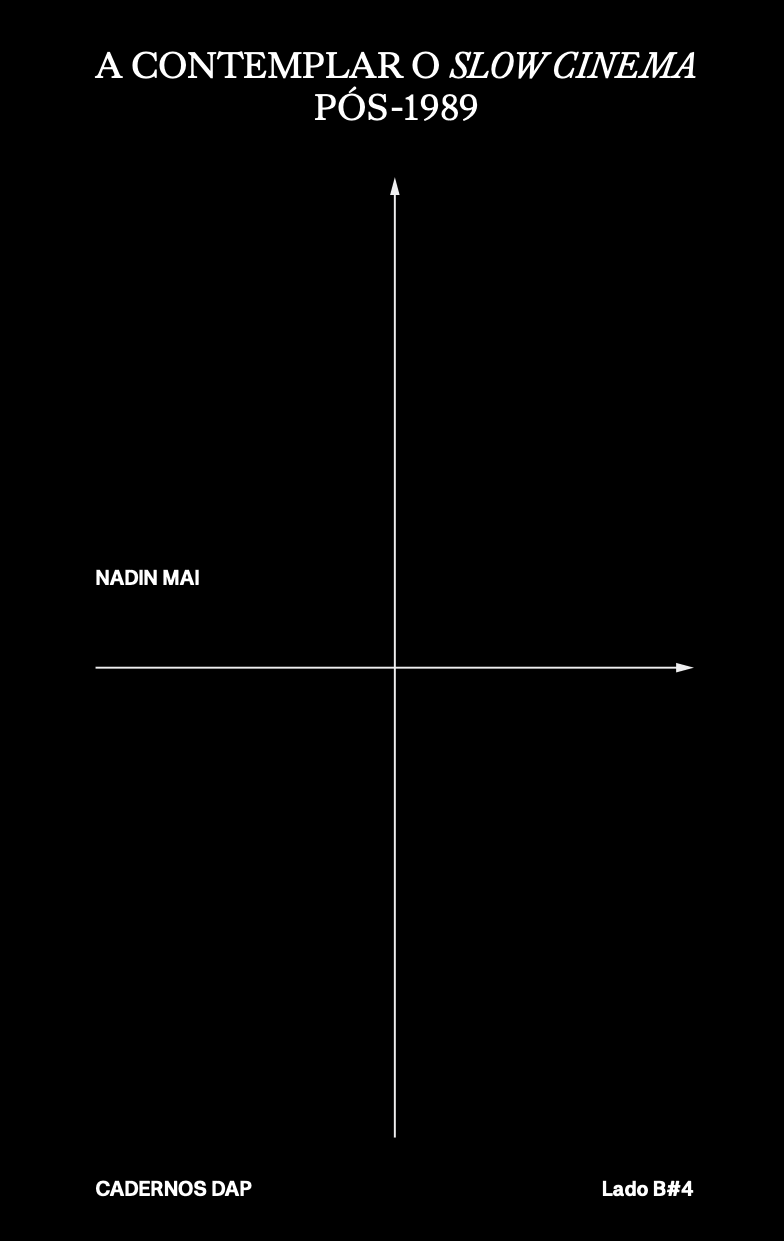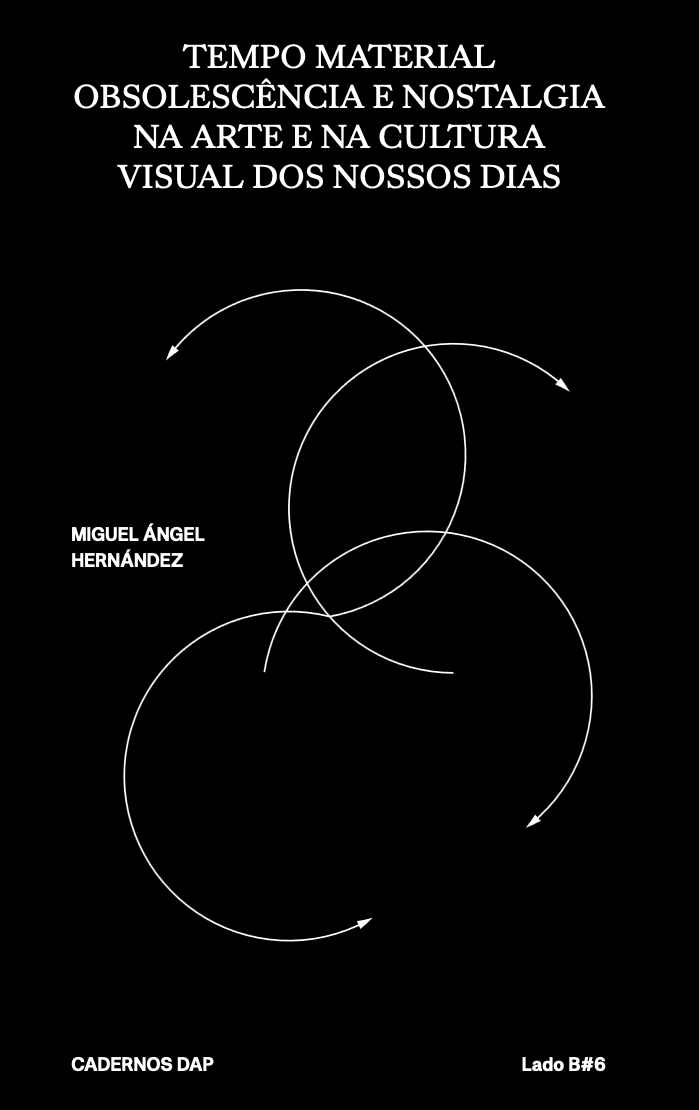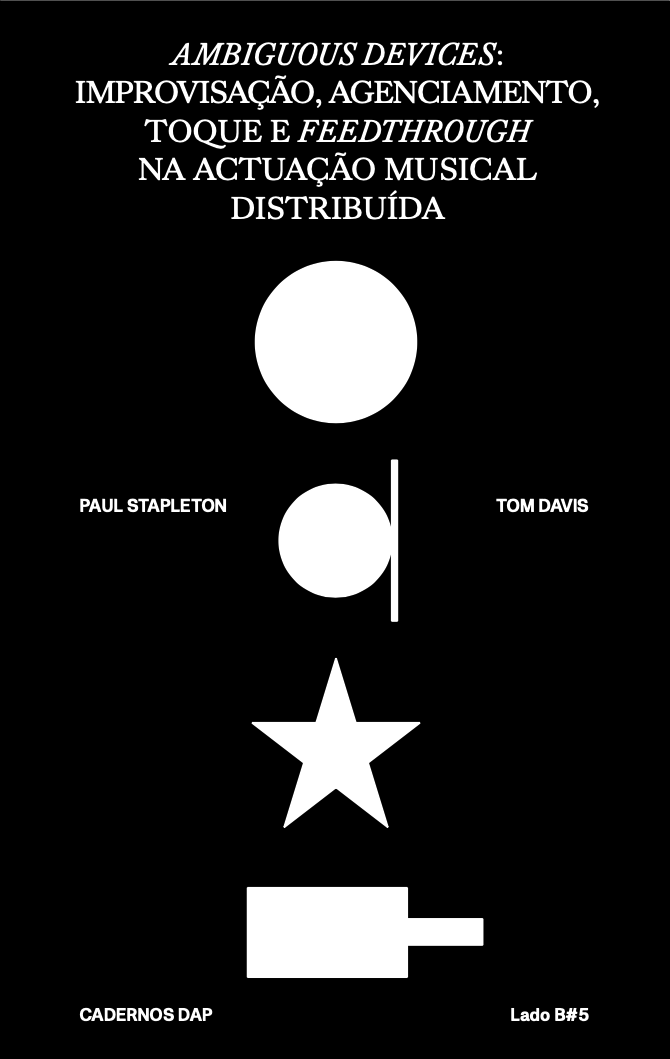
livro
Lado B #5 — Paul Stapleton & Tom Davis
As práticas artísticas do nosso tempo apresentam uma característica muito singular e importante: correm em contra-corrente com a realidade política do mundo contemporâneo, no que diz respeito ao fechamento deste último face à cada vez maior abertura do primeiro.
- Edição
- Fernando José Pereira
- Ano
- 2022
- isbn | issn
- 978-989-9049-30-7
- doi
- https://doi.org/10.34626/2022/978-989-9049-30-7
As práticas artísticas do nosso tempo apresentam uma característica muito singular e importante: correm em contra-corrente com a realidade política do mundo contemporâneo, no que diz respeito ao fechamento deste último face à cada vez maior abertura do primeiro.
Pensávamos em 1989 que, com a queda do muro de Berlim, o mundo iria tornar-se mais livre e liberto dessas abjectas construções. A realidade das últimas décadas e, sobretudo, dos últimos anos encarregou-se de o desmentir: nunca existiram tantos muros no mundo como no nosso tempo. Quer dizer, o fechamento forçado volta a ser imposto como forma de impotência do poder face ao desejo de liberdade das pessoas. Muros, sobretudo, para impedir a entrada de “intrusos”, do Outro. Dos muitos “Outros”. Como afirma a filósofa espanhola Rosa Benéitez num texto recente “As cada vez mais difundidas abstracção e espectacularização das histórias e das vidas dos indivíduos abrem caminho para decretar uma nova fronteira, uma divisão extrema entre o nós e o vós; o que a psicologia social denomina como favoritismo do endogrupo sobre o exogrupo. Esta divisão não deveria implicar problemas maiores – não seria mais do que outra forma de categorização social – se não fosse porque esse vós que, como dissemos, já só é considerado no que diz respeito à rentabilidade, pode acabar por ser excluído do nosso âmbito de moralidade.” Trata-se, portanto, de um problema moral. Talvez, apesar do seu óbvio interesse no problema, por isso mesmo, a arte se exclua desse binário ético. A arte nunca quis estar envolvida com a moral. Para a arte não existem noções de moral ou de imoral pois esta é, antes de mais, amoral. Porque não poderia ser de outra forma. Acima de tudo, por uma deliberada e intencional falta de legitimação a esse nível que, assim, a liberta desse problema polar e a coloca num outro lugar. Esse lugar é o oposto do fechamento. Esse lugar é o território da abertura.
Não é de agora o problema, ele vem-se a consolidar há já bastante tempo, décadas. Todos os fechamentos a que a arte esteve submetida (disciplinares, mediais, etc.) tenderam a dissolver-se num território que procura englobar, sem qualquer hierarquização, modos de fazer e de estar sensoriais que desafiam o ocular-centrismo, habitualmente atribuído às Artes Plásticas.
Ainda bem que assim é.
Sem necessidade de olharmos muito para trás, como definir a artista escocesa Susan Philipsz, vencedora do maior prémio mundial relacionado com a designada denominação anglo-saxónica de “visual arts”, o Turner Prize (em 2010), sendo ela uma artista que usa quase em exclusivo o som?
Como entender a obra apresentada pelo insuspeito artista americano Bruce Nauman integrada na famosa “Unilever series” e exposta na sala das turbinas da Tate Modern em Londres? A obra consistia apenas num grupo de colunas de som, planas e direccionais, que “esculpiam” o espaço da grande sala. Antes e depois, outros artistas propuseram e expuseram as suas obras aí: visuais, todas. A obra de Nauman, contudo, marca um momento de viragem importante no contexto do grupo de exposições por- que opôs o “vazio” do som à espectacularização visual ensaiada por outros artistas na ocupação da sala gigante.
As próprias Universidades e Faculdades de Belas Artes, como é o caso desta, tiveram de adaptar-se a esta nova realidade mutimedial e plurissensorial e introduzir unidades curriculares anteriormente impensáveis em cursos de Artes Plásticas. Neste caso específico, o som.
O que pode parecer um paradoxo nestes exemplos, é apenas a procura de casos extremos de autonomia do som em artistas visuais.
O que aqui importa analisar é a cada vez maior permeabilidade dos vários media que se conjugam na mesma obra para fornecer unidade ao todo. Daí, também, a inutilidade de uma discussão disciplinar no território da arte.
Uma outra discussão é, de qualquer modo, premente: aquela que envolve a necessidade de competências. Desde logo, competências para pensar os media e, depois, a capacidade para explorar, experimentar e arriscar.
Num texto já com alguns anos Rosalind Krauss analisa esta questão com o rigor que lhe é habitual e, a sua conclusão é, do nosso ponto de vista, acertada: sem competências, mesmo que só conceptuais, não há hipótese de obras. Apenas epígonos de outras esferas que não a arte.
Referindo-se à desconfiança que os artistas do século XX, radicalizada nos anos 60 com o aparecimento da Arte Conceptual, tiveram relativamente à ideia do prestígio da obra de arte e das suas possibilidades, a partir dessa noção de “bem feito” como matéria comercializável, Krauss socorre-se de uma citação do artista e teórico conceptual Ian Burn (membro do grupo Art & Language). Refere a historiadora americana:
Foi o artista conceptual australiano Ian Burn que inventou o termo “deskilling” para descrever este fenómeno, embora o termo só date do início dos anos 80, altura em que já se estava a começar a olhar para além da transgressão triunfante do gesto e a ver a sua tendência descendente. De acordo com Burn, o artista-planificador introduziu-se numa relação estranhamente imitativa com todos aqueles níveis da sociedade que consideramos como os maiores parasitas do trabalho, da criatividade ou das capacidades dos outros. Trata-se de administradores, burocratas, gestores, com a sua papelada e formulários inventados para serem preenchidos por outros; trata-se da expansão das zonas tampão de alienação.
Mais próximo do nosso tempo o artista suíço Thomas Hirschhorn, num dos seus habituais trabalhos que designa “mapas” vinca este carácter de um novo entendimento para as competências ao colocar a palavra “forma” no centro deste seu projecto. E, todos o sabemos, Thomas Hirschhoorn é tudo menos um artista formalista…
O texto que agora publicamos revela-se uma interessante fonte de discussão destes aspectos. Os artistas envolvidos, são, por inerência, experimentadores com os materiais que escolhem trabalhar. Neste caso, uma espécie de objectos sonoros, daí o termo tão importante do seu título “ambiguos devices”. Mas a sua experimentação não é baseada no “deskilling”, é, antes, uma experimentação, que conhece o saber fazer para o transformar em fazer saber, uma possibilidade de desmontagem do que não querem, operada pelo conhecimento muito clarividente do que pretendem.
São, portanto, objectos, muitos deles, compostos por materiais obsoletos (lembremos a importante relação da obsolescência com o trabalho dos artistas contemporâneos) e, contudo, da maior importância para a concretização dos seus objectivos: a criação de objectos “ambíguos”.
A palavra ambiguidade, escolhida pelos artistas para os seus objectos e usada frequentemente no decorrer do texto, para eles e para explicar as suas formas de actuar é da maior importância. A ambiguidade afasta estes objectos e estas sonoridades para o campo das subjectividades que são a base de todo o fazer e compreensão do objecto artístico. Falaremos, portanto, de “ambiguidade” como uma espécie de sinónimo de subjectividade presente. Os autores do texto referem variadas vezes o conjunto de palavras: ambiguidade, subjectividade, indeterminismo, experimentação. Todos elas, noções referentes ao núcleo central do processo de fazer da arte e da sua autonomização relativamente a outras esferas do pensamento, como, por exemplo, a comunicação.
A comunicação é uma das características essenciais destes objectos ambíguos pois o que os artistas propõem é interagir um com o outro em espaços distantes e, contudo, tentando evitar a armadilha da sua integração nos dispositivos da comunicação global. Seria, por certo, muito mais fácil, mas, muito menos apelativo, o prazer experimental da ambiguidade que querem trazer para as suas actuações. Dizem os próprios: “uma luz aumentaria de intensidade para indicar a um instrumentista local a proximidade de um colaborador fisicamente distante do seu instrumento, e vice-versa, sem qualquer outra troca de informação em toda a rede”. Esta opção, aparentemente obsoleta, contém em si duas escolhas importantes: a utilização de sinais comunicativos ancestrais aplicados a uma actuação contemporânea. Mas esta afirma-se como uma das principais diferenças entre as práticas artísticas e a comunicação. Não há evolução no pensamento artístico, apenas diferença. A utilização de dispositivos obsoletos é assim uma possibilidade em aberto que a comunicação, dominada pelo up to date tecnológico não permite. Lembremos brevemente o pensamento do filósofo espanhol Garcia Bacca sobre a premência do obsoleto: diz ele, acertadamente, que o obsoleto, ao contrário do que é comum pensar, não se integra numa camada de tempo ligada ao passado. O obsoleto corporiza-se no presente. Só não se identifica como forma preponderante dessa temporalidade. O que permite, obviamente, uma abertura imensa, por oposição do fechamento tecnológico da comunicação (cada vez mais efémero pela pressão da instan- taneidadade). As fronteiras, que, corporizam as actuais práticas artísticas, são absolutamente porosas, tão porosas que acabam por desaparecer.
É nesse território ambíguo e extraordinariamente criativo que se integra a prática destes dois artistas. É aí, também, que este Curso de Doutoramento tem assentado as suas raízes e as suas práticas: longe dos fundamentalismos formalistas e disciplinares anteriormente existentes, mas, muito consciente das adversidades que uma realidade global dominada tecnologicamente pela comunicação da instantaneidade coloca aos artistas. Uma certeza, se tal se pode afirmar, contudo, temos: a abertura à diferença e à diversidade das propostas só enriquecem um território que é elástico por inerência. Escrevi há já muitos anos que existe uma utopia em todos os artistas: criarem algo que possa estar, efemeramente, fora do território, quer dizer, que não seja naturalmente reconhecido por este. E, depois, tal como Duchamp nos ensinou com os seus “ready-made”, ou Cage com os seus falsos silêncios, obriguem o território a exercer a sua capacidade de elasticidade e acolhê-los no seu interior. Mas tal, só pode ser feito sem pre-conceitos mediais, disciplinares ou outros. Só pode ser feito num lugar de abertura.
Referem os autores:
Para clarificar, não estamos a defender a rejeição de tradições e técnicas culturais desenvolvidas por meio da disciplina física; a improvisação talvez seja melhor quando as habilidades desenvolvidas a partir da prática são às vezes implantadas, adiadas e transgredidas numa abertura radical ao presente.
Para clarificar, dizem-nos. Aqui não há ambiguidades: a negação do fechamento pode ser uma possível e bela definição de arte.
As práticas artísticas mais diversas do nosso presente aí estão e estarão para o provar. À universidade só resta um caminho: acompanhar com atenção, investigar e ser uma sua aliada importante.
Fernando José Pereira
Sobre Lado B
Num passado que já parece longínquo, em plana vigência analógica, os grupos musicais pop editavam com frequência os chamados singles. Aí colocavam a música que lhe parecia mais talhada para o sucesso imediato e, logicamente, numa intencionalidade mainstream esta era divulgada e massificada intensamente. Como todos recordam os discos analógicos tinham dois lados (hoje aí estão outra vez…) um denominado A e o outro, denominado B. O carácter secundário do outro lado permitiu, também, que parte importante da experimentação avançada pelos intervenientes activos de então aí fosse colocada. A lógica era simples, só os mais curiosos e atentos iriam virar o disco e escutar o outro lado, o lado B. O tempo veio colocar em destaque toda essa vertente experimental e de risco. Não são raros os casos em que a recuperação se faz exactamente a partir das músicas impressas no lado B. O outro lado aparece, hoje, como o mais interessante, longe da assimilação e trituração comercial a que foram sujeitos os lados A. O seu distanciamento e natural obscurecimento perante os spotlights, apontados ao lado principal, preservaram-nos e trouxeram-nos até nós, hoje ouvintes digitais, como obras primeiras. A metáfora aqui apresentada pretende, antes de mais, ser um ponto de partida para uma reflexão mais aprofundada sobre a premência do deliberado afastamento a que se remetem algumas obras e textos. A sua permanência ausente da crista da onda (metáfora analógica, mas com intencionalidade digital) permite-lhes um grau de risco e de experimentação que não é passível de ser realizado em sistema de recepção mainstream. É sobre eles que queremos reflectir, sobre a sua necessária lucidez, que as protege e distingue da torrente de acomodação e deslumbramento, fundamento último para a sua existência enquanto obras ou textos que querem resistir à actual voracidade e velocidade do novo. Sem intuitos morais de representantes oficiosos de qualquer tempo ou tecnologia, apenas como obras ou textos.