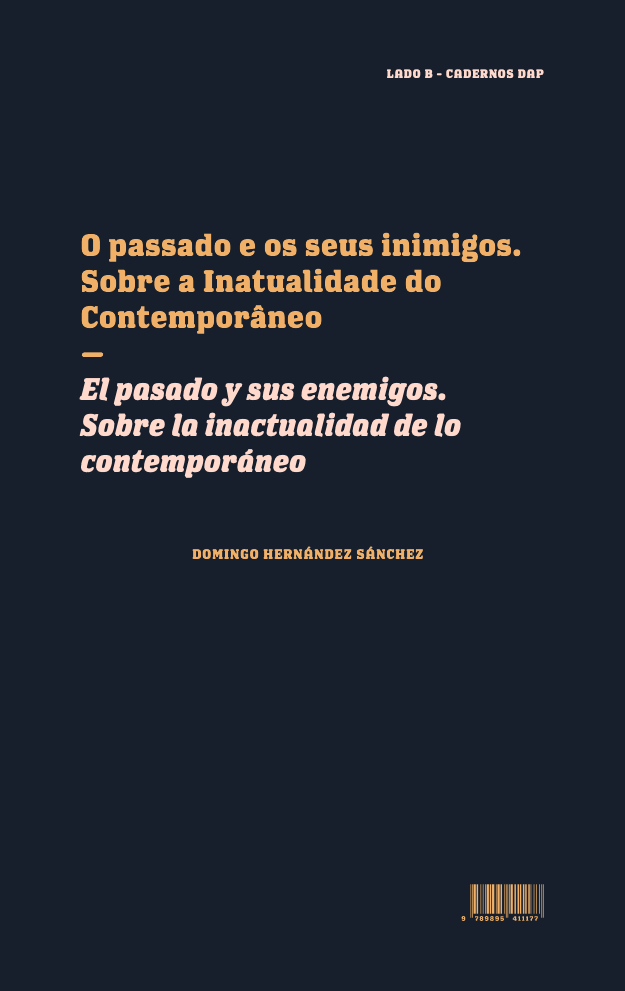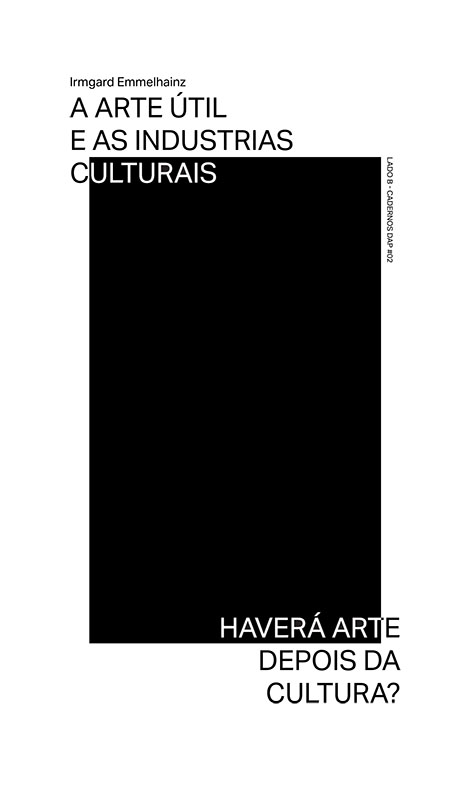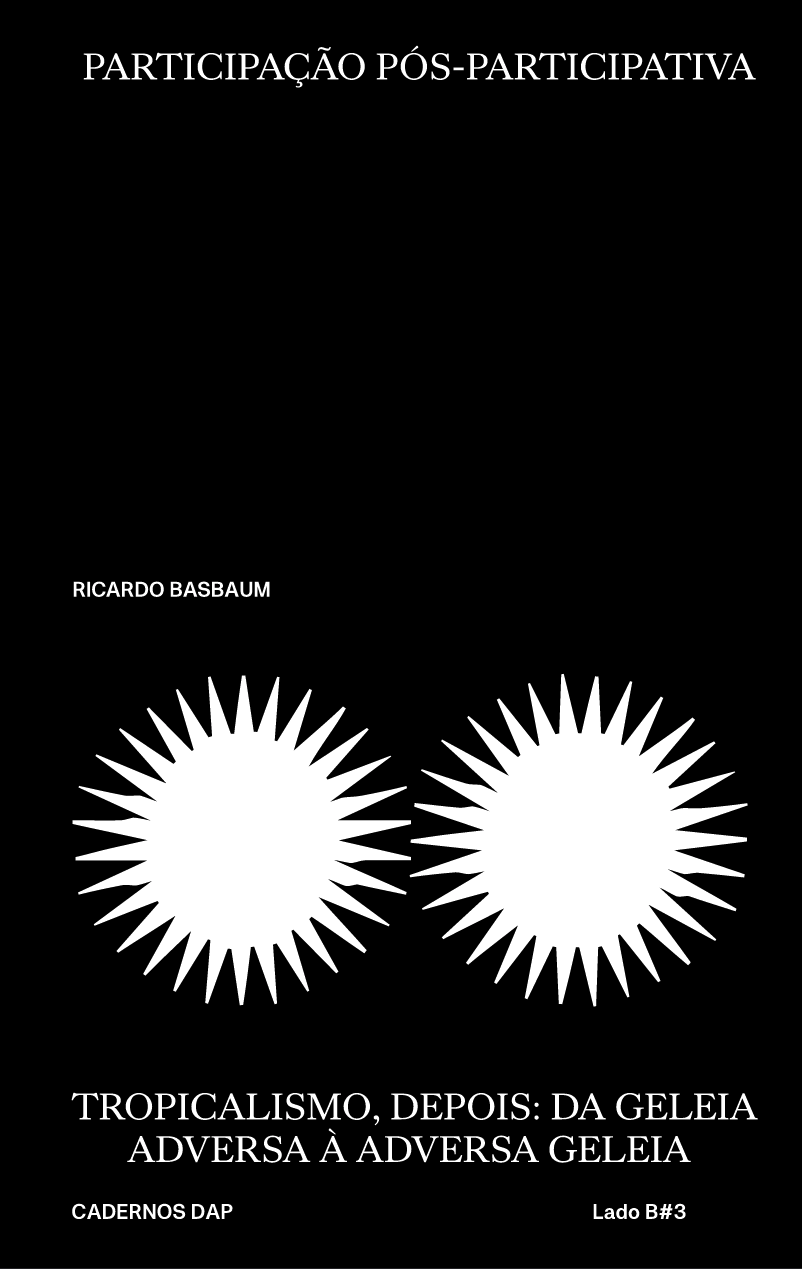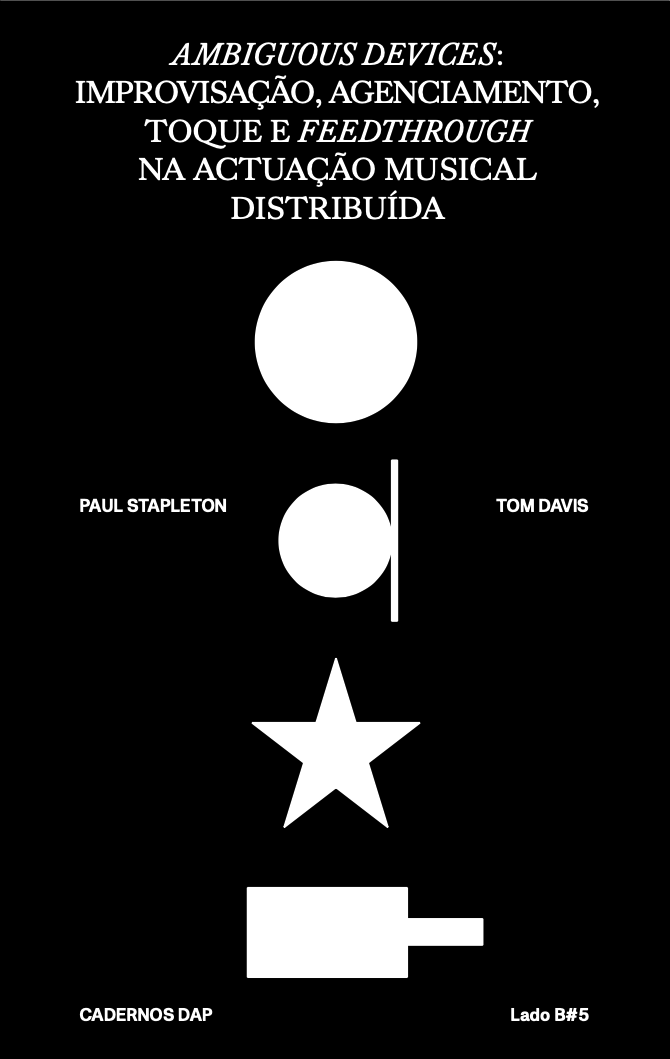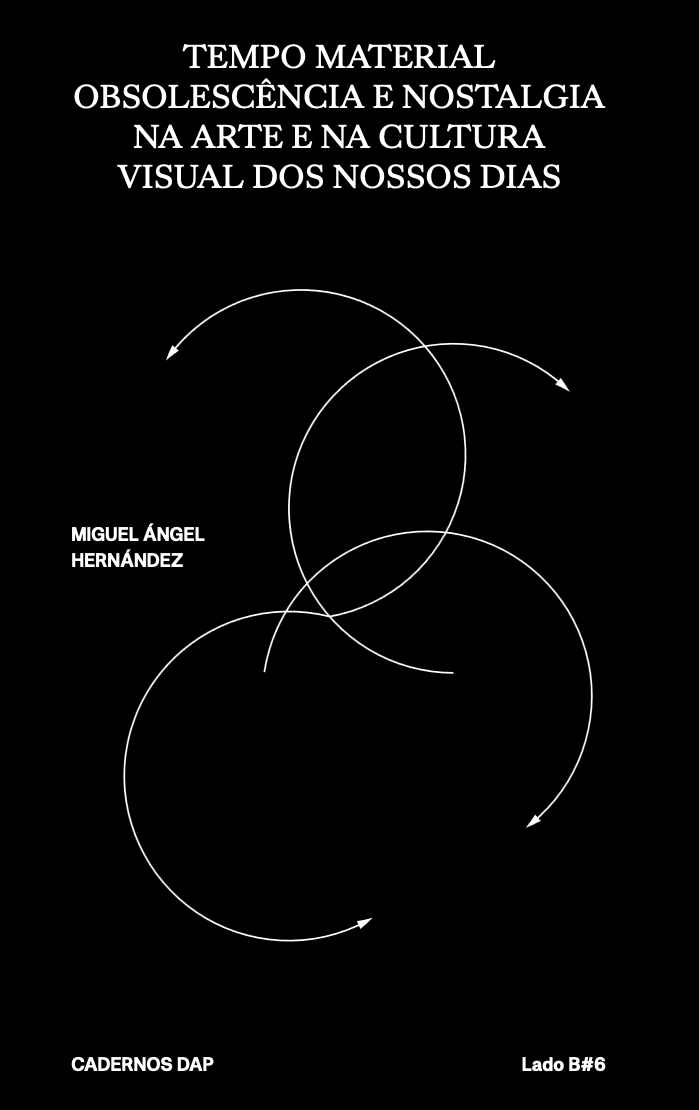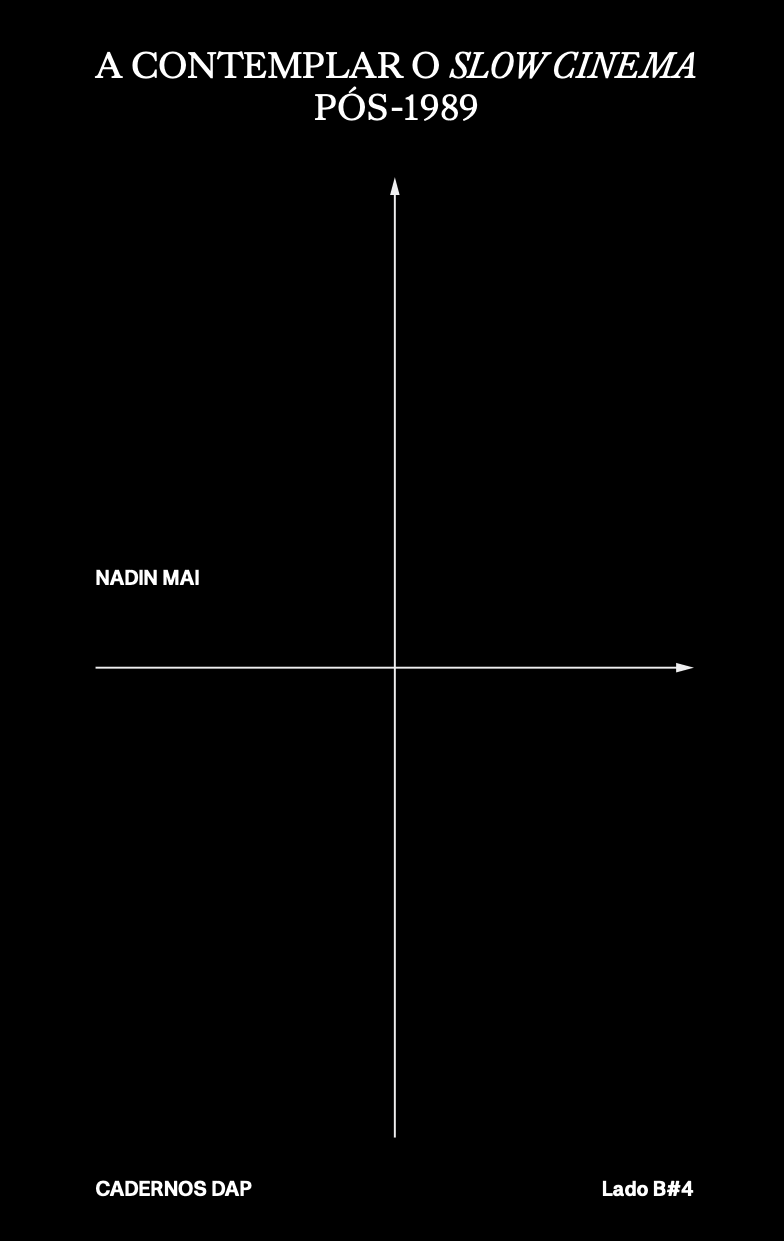
livro
Lado B #4 — Nadin Mai
As tecnologias de informação, as designadas transições digitais, o fechamento a que parecem condenar-nos ao concentrarmos toda a nossa vida num único dispositivo digital está a afastar-nos da nossa condição de humanos e do necessário tempo que necessitamos para continuarmos a sê-lo.
Um dos grandes objectivos deste Doutoramento em Artes Plásticas tem sido tornar visíveis os pontos que afirmam a porosidade actual das várias fronteiras existentes no mundo das artes. Essas fissuras, cada vez mais amplas, têm tornado as práticas artísticas do nosso tempo numa espécie de ecossistema em que co-habitam diversas formas de fazer saber. Os preconceitos relativamente às várias possibilidades presentes encontram-se em clara decadência. Já não se trata somente das várias disciplinas do âmbito do visual, mas todas as outras hipóteses possíveis ao nível do que conhecemos como sentidos. E, contudo, um elemento decisivo, une todas as exterioridades numa só interioridade: o tempo. As práticas artísticas de hoje confrontam-se diariamente com a sua necessária resistência à instantaneidade do presente. A desrealização a que as imagens, sobretudo, e a realidade em geral se encontram sujeitas, manietadas que estão a um tempo que já não é seu, que lhes foi roubado, em favor de um outro, maquínico, artificial, obriga a reflexão aprofundada sobre esta característica tão estrutural da nossa existência.
Referia George Kubler no já longínquo ano de 1962, citado por Nicolas Bourriaud no seu último livro: “O actual é quando o farol se encontra apagado entre dois flashes de luz intensa: é o instante entre as batidas dos ponteiros de um relógio, é o intervalo vazio que se desloca para sempre através do tempo (…). Mas esse instante actual é tudo o que podemos conhecer directamente. O resto do tempo só emerge através de sinais que nos enviam nesse mesmo instante, em etapas inumeráveis e através de portadores inesperados. Esses sinais são como a energia cinética acumulada até ao presente”. Apesar de distante esta é uma afirmação que ganha uma potência inusitada nos dias de hoje.
As artes em geral necessitam de um elemento mediador para poderem corporizar-se e materializar a sua existência, tanto física como significacional. É, exactamente, esse elemento que determina o instante em que o espectador é confrontado com a obra e em que esta lhe revela todo um outro tempo, que vem de trás, e que configura as possibilidades de se afirmar enquanto tal. Diz Peter Osborne que o tempo alargado que os artistas, por vezes, necessitam para elaborar os seus trabalhos se reflecte decisivamente na forma como o espectador os vai receber. Este tempo necessário é, talvez, o elemento político mais importante com que os artistas podem contar para continuar a produzir obras em condições absolutamente adversas, quer dizer em tempos sem tempo. Em tempos sem possibilidade reflexiva.
A noção de contemplação foi atacada ao longo de quase um século por uma sociedade que se encontrava fascinada com as “potencialidades” oferecidas pela nova vida veloz que o século passado começou a oferecer. Estava errada a vários níveis, como hoje percebemos com clareza. Desde logo, porque essa velocidade que, como muito lucidamente nos avisou Walter Benjamin através do seu anjo da história, nos conduziria a uma catástrofe. Estamos a vivê-la hoje nos vários níveis que queiramos nomear: nas inumeráveis correntes migratórias; nas guerras sem fim como causalidade de desumanas condições para multidões de refugiados; na imposição de um tempo que é absolutamente externo a uma grande parte da população do mundo e que, desta feita, provoca as catástrofes referidas, entre muitas outras. É o tempo da imposição totalitária das velocidades digitais que muito interessam, por exemplo, ao sistema financeiro, mas que introduzem uma disrupção contínua nas nossas vidas.
Por isso, chegou o tempo de repensar a noção de contemplação. Como forma de resistência a todas estas circunstâncias. Nadin Mai, a autora deste livro termina o seu texto a referir que o que é conhecido como “slow cinema” é uma forma humana de cinema. Tem toda a razão. Este fazer lento e contemplativo do cinema (como das outras artes) quer refletir em si próprio e em forma positiva a relação com o humano que nos está a ser retirada.
As tecnologias de informação, as designadas transições digitais, o fechamento a que parecem condenar-nos ao concentrarmos toda a nossa vida num único dispositivo digital está a afastar-nos da nossa condição de humanos e do necessário tempo que necessitamos para continuarmos a sê-lo.
Em textos passados desenvolvi uma noção que se coaduna com esta de “slow cinema”. A essa noção designei-a como paragem. Antes de mais, porque dentro da palavra existem dois verbos paradoxalmente antagónicos: parar e agir. E este parar e agir é, nada menos, nada mais, que uma afirmação da possibilidade contemplativa, despojada do seu carácter pejorativo de conexão com a passividade. Aqui trata-se de repor uma verdade: a contemplação nunca foi passiva, bem pelo contrário. Trata-se, portanto, de uma contemplação activa que se opõe, isso sim, declaradamente a uma passividade contemporânea baseada na instantaneidade que é imposta no quotidiano.
O “slow cinema” como forma humana de cinema é exactamente esta atenção necessária ao tempo, chamemos-lhe, necessário. Um tempo que é imprescindível para se poder julgar, para se poder apreciar, para se poder fruir. Um tempo que escapa à ditadura do maquínico, do híper-rápido, do techno sublime, diria Jameson. E este é o tempo que a arte reivindica e que, ao fazê-lo, a coloca na posição que sempre quis ter. Aquela que a potencia enquanto possibilidade alternativa à comunicação, que a coloca nessa posição invejável de “gasto inútil” como afirmava Battaile. Um gasto inútil mas verdadeiramente humano, longe das temporalidades impostas pela ideia de crescimento contínuo, pela presença da catástrofe.
O texto deste livro é, por isso, da maior importância para todos aqueles que se interessam pela realidade e pelo seu fruir, quer dizer, pela vida. É da vida, das nossas vidas, que falam os filmes que a autora refere. E essa, a vida referida neste livro, por muito que o capitalismo global tente encobrir com a instantaneidade do “actual”, necessita de todo o tempo para ser vista, referida e, arriscamos, fruída, através das imagens resistentes (desanestésicas, para utilizar uma noção que me é cara) que apresentam.
Se são temporalidades incómodas, se provocam uma espécie de exterioridade no frenesim do quotidiano, ainda bem. São essas características verdadeiramente importantes que tornam estas formas das práticas artísticas e, neste caso particular, daquela componente do mundo da arte hoje conhecida como time based art e, mais especificamente, do cinema que lhes dão a capacidade de poderem continuar. Que as colocam, já não numa redoma fechada, mas numa situação de intrusão na realidade. Que possuem a capacidade de provocar um sobressalto, mais não seja, pela estranheza, mesmo que familiar, que exalam ao afirmarem-se de forma tão estranhamente diferenciada da produção pandémica da imagética do nosso tempo sem tempo. Estas últimas são apenas restos e rastos, o “slow cinema” é a imagem em todo o seu esplendor.
E, contudo, que não existam equívocos. Toda esta discussão é absolutamente exterior a qualquer problema de formalismo. Estas imagens ao oferecerem-se com a lentidão necessária, trazem-nos a possibilidade acrescida dos seus significados se afirmarem sem medos, sem ambiguidade. Exactamente porque se apresentam como portadoras de um tempo que tudo isso per- mite e gosta.
Nada melhor que terminar esta pequena introdução com uma citação da autora do livro, porque condensa em si todo um universo que aqui tentamos descrever:
“O cinema lento não é cinema de superfície. É um espelho da nossa alma, é um espelho do que é geralmente invisível, tanto no ecrã como fora do ecrã. O que ali vemos é muitas vezes o que acontece dentro de nós mesmos, mas cuja presença não reconhecemos”.
Fernando José Pereira
Sobre Lado B
Num passado que já parece longínquo, em plana vigência analógica, os grupos musicais pop editavam com frequência os chamados singles. Aí colocavam a música que lhe parecia mais talhada para o sucesso imediato e, logicamente, numa intencionalidade mainstream esta era divulgada e massificada intensamente. Como todos recordam os discos analógicos tinham dois lados (hoje aí estão outra vez…) um denominado A e o outro, denominado B. O carácter secundário do outro lado permitiu, também, que parte importante da experimentação avançada pelos intervenientes activos de então aí fosse colocada. A lógica era simples, só os mais curiosos e atentos iriam virar o disco e escutar o outro lado, o lado B. O tempo veio colocar em destaque toda essa vertente experimental e de risco. Não são raros os casos em que a recuperação se faz exactamente a partir das músicas impressas no lado B. O outro lado aparece, hoje, como o mais interessante, longe da assimilação e trituração comercial a que foram sujeitos os lados A. O seu distanciamento e natural obscurecimento perante os spotlights, apontados ao lado principal, preservaram-nos e trouxeram-nos até nós, hoje ouvintes digitais, como obras primeiras. A metáfora aqui apresentada pretende, antes de mais, ser um ponto de partida para uma reflexão mais aprofundada sobre a premência do deliberado afastamento a que se remetem algumas obras e textos. A sua permanência ausente da crista da onda (metáfora analógica, mas com intencionalidade digital) permite-lhes um grau de risco e de experimentação que não é passível de ser realizado em sistema de recepção mainstream. É sobre eles que queremos reflectir, sobre a sua necessária lucidez, que as protege e distingue da torrente de acomodação e deslumbramento, fundamento último para a sua existência enquanto obras ou textos que querem resistir à actual voracidade e velocidade do novo. Sem intuitos morais de representantes oficiosos de qualquer tempo ou tecnologia, apenas como obras ou textos.