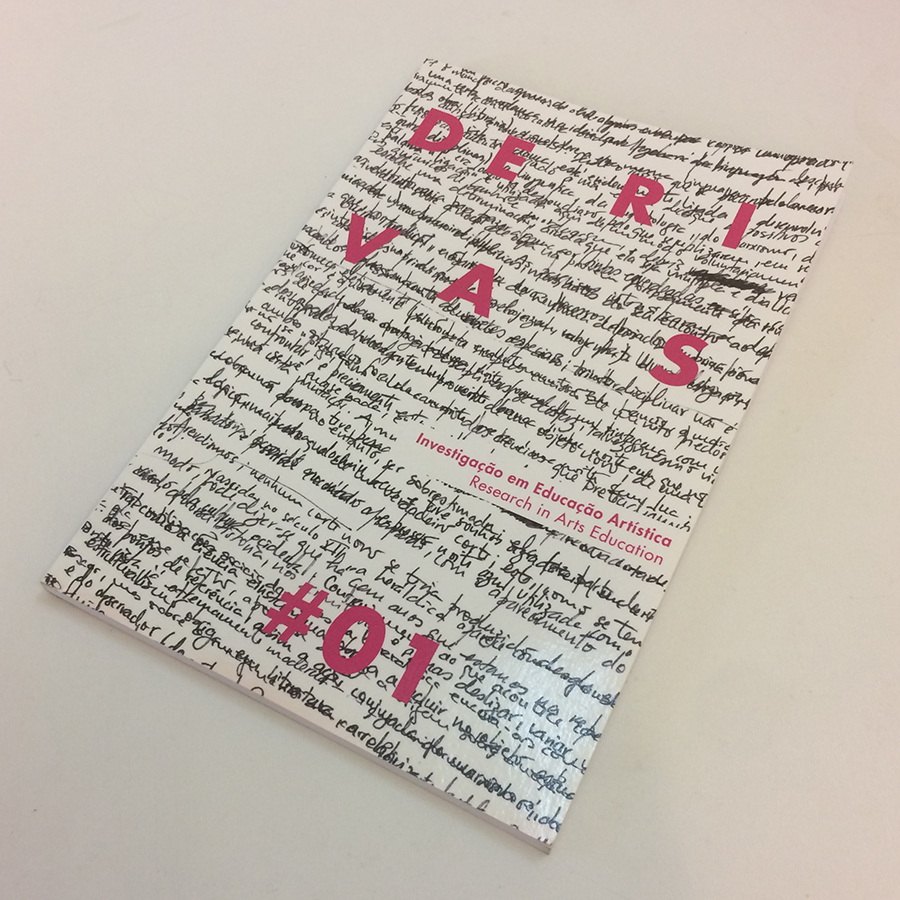journal
Derivas #3
Os textos escrevem-se com outros textos. Ou melhor dito: todos nós escrevemos os nossos textos com textos escritos por outros.
- Edição
- Catarina S. Martins, José Paiva, Catarina Almeida e Tiago Assis
- Ano
- 2017
- isbn | issn
- 2183-3524
- doi
- https://doi.org/10.24840/2183-3524_2017_3
Editorial
Os textos escrevem-se com outros textos
Os textos escrevem-se com outros textos. Ou melhor dito: todos nós escrevemos os nossos textos com textos escritos por outros. É isto que me ocorre dizer, em primeiro lugar, a respeito dos oito artigos que integram a presente Derivas. Escrever sobre vários textos, mais do que uma tarefa ingrata (ou inglória!) é um empreendimento impossível, e que corre sempre o risco de defraudar as intenções (de produção de sentido) e as expectativas (de leituras) de quem os escreveu. Ainda assim, arrisco, lançando-me nesse espaço desconhecido que é este conjunto de textos escritos por outros que não eu. Logo à partida, um dado que não me parece de todo irrelevante, prende-se com o facto de seis desses artigos serem assinados por mulheres e outros dois serem assinados por três homens (sendo um deles assinado por dois autores). Temos nove autores, portanto. A chamada escrita colaborativa (em sistema de co-autoria) não é de facto uma prática corrente nesta revista (em particular), como de resto não o é na chamada ‘escrita académica’ (em geral). Outro dado que também me parece relevante mencionar, tem a ver com a escolha da ‘língua’ por parte dos autores: dois artigos (respectivamente de Ricardo Pistola e Susana Ribeiro) surgem escritos em inglês. A esse respeito não será despropositado referir como, no universo da publicação académica (em regime peer-review), cada vez mais se impõe que abdiquemos de escrever na nossa língua materna, e privilegiemos a escrita naquela que é a língua de maior circulação e legibilidade (ou visibilidade) internacional – o inglês, essa espécie de esperanto académico. Escrever em inglês é hoje a maior exigência (obrigação!) que se impõe a quem escreve e, sobretudo, a quem quer publicar aquilo que escreve. Sobre esta questão da ‘maioridade’ e ‘menoridade’ das línguas em que escrevemos e publicamos (pensamos!), muito haveria a dizer… sobretudo quando nessas hierarquias (ou rankings) também se joga aquele que é o estatuto ‘maior’ ou ‘menor’ de certos objectos de estudo e de certas disciplinas ou campos de conhecimento (como é o caso da própria educação artística).
Quanto aos tipos de objectos e fontes tratadas pelos autores desta Derivas, a diversidade impõe-se e distribui-se pelas categorias possíveis da educação artística nos seus (im)possíveis cruzamentos com a investigação em artes (dança, música, desenho, pintura, multimédia, cinema, etc.): desde a educação em museus e centros de artes contemporânea (Fábrica das Artes, CCB; Museu do Douro) até ao ensino superior especializado (FBAU P), passando por uma gama de cenários mais ou menos (in)formais, no sector público ou privado (Viarco Pencil Factory). Todos, a seu modo, falam da sua solidão, embora as suas vozes ‘autorais’ sobressaiam tanto mais quanto mais se afogam e diluem no mesmo mar de textos e autores em que todos mergulharam. Ana Cristina Dias fala-nos dessa solidão sem exílio a partir da qual procura ensaiar uma aproximação da escrita à dança contemporânea. O problema da escrita afirma-se, neste ensaio, como uma prática assumidamente ‘tacteante’ que resulta de um ‘esforço’ no sentido da transgressão das fronteiras entre ‘leitor/escritor’ e ‘espectador/criador’. Nesse espaço vazio que vai do corpo até à folha-ecrã-palco, a escrita começa por se ensaiar ao questionar-se, em primeiro lugar, acerca da sua própria prática enquanto ‘gesto autoral’ ou ‘assinatura coreográfica’. A aproximação da escrita à dança coloca o corpo que escreve-dança perante a exigência (a obrigação) de se pensar enquanto ‘processo de criação’ sempre inacabado e sempre assombrado por ‘medos’ e ‘fantasmas’ que lhe murmuram ao ouvido a iminência do seu ‘falhanço’, a inevitabilidade da sujeição desse corpo escrevente-dançante às leis da gravidade ‘autoral’ que o impelem constantemente para a queda, a morte, o desaparecimento. “O que me paralisa é a promessa? (…) O que pode o olhar do outro?” – pergunta Ana Cristina enquanto ensaia a escrita de si. A escrita (entendida, também, como coreografia) afirma-se nessa estranha negociação, feita de negações e resistências, do corpo-dançante com o corpo-escrevente. Escrever a dança (ou dançar) não é o mesmo que escrever sobre a dança (ou sobre o dançar). Mas escrever já é, de certo modo, coreografar: impor ao corpo uma disciplina. O corpo que dança resiste a tornar-se escrita (ou a resumir-se a ela). Porque o corpo que dança, não é o mesmo corpo que escreve. A exigência que a escrita impõe ao corpo-dançante é precisamente essa: o acto de escrever obriga a que o corpo não dance. Daí, também, o “redobrado risco, redobrada culpa” do corpo dançante enquanto responsável pela morte da dança às mãos da escrita. À pergunta “o que seria uma leitura para alimentar uma escrita?” talvez se pudesse responder com outra: o que seria uma escrita para alimentar uma dança? Será que algum dia um corpo-dançante poderá encontrar uma resposta minimamente satisfatória que lhe permita superar (ou deixar, de uma vez por todas, de tentar responder a) esta pergunta: “Porquê, então a dificuldade da escrita?”.
Mas são também os fantasmas, o medo do falhanço, e toda a sorte de glórias e misérias que assombram a “figura mítica do autor”, que nos aparecem, de soslaio, n’Um olhar sobre os discursos da morte, de Margarida Dourado Dias. Propondo-se analisar os discursos produzidos pelos diversos saberes disciplinares (a filosofia, a psicologia e a arte), e o modo como estes procuraram ‘regular’ o seu próprio discurso sobre a morte, Margarida Dias lança mãos a um trabalho assumidamente ‘histórico’ e ‘arqueológico’ que consiste em escavar – quer nas profundezas do imaginário científico colectivo, quer na superfície da cultura visual ocidental –, as origens dessa vontade de poder-saber que fez nascer a necessidade de ensinar a vida à criança, por intermédio de escritas e pedagogias que visavam, justamente, ocultar e/ou explicar a morte às crianças. Nesse trabalho de escavação, vemos como a emergência de uma literatura sobre a morte se tornou constitutiva não apenas da possibilidade de generalizar a “evolução cognitiva da morte” mas, sobretudo, da possibilidade de transformar a morte num objecto de conhecimento e num fenómeno cognitivo (mais do que biológico). Se, como “artista”, começou por “pensar a morte como metáfora”, como “investigadora” Margarida encontrou “o grão de areia que, pelo desconforto criado no sapato” a obrigou “a retirá-lo para o observar com outro olhar”.
Começando por explicar as origens do seu interesse neste tema: “desde criança que me pergunto porque têm as pessoas tanto medo da morte”, aquilo que a Margarida-criança acabaria por descobrir no seu processo de devir Margarida-adulta, e mais especificamente, no seu devir Margarida-artista e Margarida-investigadora: “há muito que o medo da morte me abandonou. Morreu por pensar sobre ela”. Mas essa descoberta não se deu por um mero acaso enquanto Margarida se dedicava, pura e simplesmente, a viver a sua vida como uma experiência singular, ou a transformá-la num objecto de estudo: “a fonte da minha aprendizagem sobre a morte passou pela literatura, porque só ela me falava.” Nesse processo de “desmistificação da morte” e desvendamento das narrativas de “salvação” que, ao longo dos tempos (e das escritas) foram afirmando a necessidade do seu conhecimento como condição da própria “vida” e da sua “produtividade”, Margarida afirma (a propósito dos vários autores já mortos a cujos textos teve de recorrer para escrever a sua própria história da morte): “estas entradas são feitas a partir de leituras de escritos que nunca se ficam só pelo discurso do autor, mas referem-se sempre a outros autores.” E pergunta: “Será aliás possível falar sem a voz dos outros incluída na nossa?” A morte é esse outro da vida e, tal como a morte do autor (a morte de toda a autoria e autoridade) é a condição (o alimento) da própria possibilidade da escrita, da escrita como possibilidade de uma vida outra. De um modo paradoxal: pensarmos (escrevermos) sobre (com) a morte, é libertarmo-nos dela. Freud dixit: “Se queres suportar a vida, prepara-te para a morte”.
Numa sociedade em que se adquiriu “o direito (ou obrigação?) a viver, mas não a morrer”, a criança – ou a infância enquanto promessa da vida na sua máxima potência – tornou-se o objecto de conhecimento por excelência e o alvo inevitável das ideias dos adultos quanto à esperança de vida do seu próprio mundo, e quanto à própria responsabilidade do adulto em salvá-lo por via do amor à criança. É em nome (e em consequência) dessas fantasias adultas sobre o mundo infantil (e sobre o que pode, deve – ou não – ser esse mundo) que Madalena Wallenstein pergunta (como quem responde afirmativamente à sua própria questão): Então, o Pinocchio sou eu? Aqui a identificação de Madalena com o célebre personagem de ficção que inundou de memórias e morais o nosso imaginário infantil, não se resume a um mero percepto ou artifício da escrita. Pinóquio tem, afinal, um rosto visível e um nome próprio de ser amado. Pinóquio é Madalena, mas é sobretudo o seu irmão gémeo, Miguel, a prova viva que parece suplantar a realidade que nem em romance nos parece possível: “recusou-se à submissão escolar e perseguiu a liberdade e o desejo no encontro consigo, com os outros e a natureza”…”um ativador de prazeres”. Miguel é o sonho de Pinóquio. Mas Miguel é para Madalena (tal como Pinóquio é para todos nós) aquilo que Madalena vê nele: é o seu personagem de ficção, o seu “herói”, ou seja, uma potência de vida fantástica, uma espécie de gigante, uma exageração da vida. Mais do que perceptos, Miguel e Pinóquio são afectos e, como tal, devem pagar o seu preço pela exorbitância, pela excentricidade que impõem à normalidade da existência dos outros. Os afectos são esses devires que transbordam daquele (e excedem aquele) que passa por eles. Pinóquio e Miguel, como uma música, fazem-nos ver várias cores. Essa música e essas cores são grandes criadoras de afectos que nos arrastam para potências acima da nossa compreensão. É também por isso que a possibilidade de uma programação artística para a infância não pode ser pensada sem que se interroguem, por um lado, as nossas convições e afectos sobre a infância e, por outro, a razão pela qual nos é tão difícil imaginá-la fora das categorias científicas e artísticas que a fazem oscilar entre os dois pólos da insubmissão e normalidade. Imaginar a criança como “público”’ ou “espectador” ou imaginar que a infância é, afinal, “identificável em todas as idades” – “as infâncias” – não será ainda remetê-las ou confiná-las aos estereótipos que as prendem à “noção de desenvolvimento” elaborada pela psicologia e esteticizada pelos dispositivos educacionais da arte contemporânea do século XXI? Será que somos mesmo capazes de sonhar (entre o pesadelo e o medo) a infância – o “devir criança” – como uma potência que é tanto mais potente quanto mais se escapa não só à nossa capacidade (adulta) de pensá-la como, sobretudo, se escapa à nossa vontade de antecipá-la ou programá-la, para melhor poder controlá-la nesse seu potencial de ser e não ser o “boneco” transformado em ‘menino de verdade’ que dela esperamos? Não será, afinal, a “criança” essa “quimera inviável” que dentro de cada um de nós pergunta (como quem responde afirmativamente à sua própria pergunta): “educar é negar o infantil?”.
Como pode a arte ou a “experiência artística” contrariar ou resistir a esta força da repetitividade educativa e escolarizada (a nora) e, ao mesmo tempo, ativar “pequenas emancipações de infância agrilhoadas em si mesma”? Será algum dia possível que nem todos os caminhos vão dar à escola?… “Era uma vez um bocado de madeira!”… que foi parar à “Terra dos Tolos”…Nas palavras de Madalena Wallenstein: “Pinocchio oferece-se hoje como um lugar abissal para pensar o infantil, a educação, o crescimento, a procura do seu interior e de um lugar no mundo”.
“Repetition changes nothing in the subject repeated, but does change something in the mind, which contemplates it” – citando Gilles Deleuze em Difference and Repetition, é nestes termos que Ricardo Pistola conclui o seu ‘ensaio visual’ cujo objeto consiste num experimento realizado a partir da exploração das potencialidades técnicas de um ‘material de desenho’ (ArtGraf Nº1). Inserindo-se quer no contexto de um projecto de doutoramento em educação artística, quer no contexto ‘industrial’ da Viarco Pencil Factory, a ‘experimentação’ foi ‘levada a cabo pelo investigador no contexto de atelier’ e apresenta-se numa série de imagens que documentam a ‘experimentação’ enquanto processo de exploração das ‘propriedades físicas e mecânicas’ daquele material de desenho. Ou seja, as imagens que ‘apresentam os resultados’ e o ‘comportamento’ do material ‘em diferentes superfícies de papel’, falam por si mesmas (e de si mesmas), sendo que a sua ‘conexão com o texto’ (propriamente dito) do ensaio visual foi ‘estabelecida através das preocupações metodológicas que surgiram durante o processo de investigação’. Mas é precisamente a intradutibilidade do acto de desenhar enquanto ‘ação presente’ – decorrente da experimentação individual ou experiência solitária do ‘investigador’ –, que acaba por sobressair nos próprios conceitos (draw in, drag to model, grasp) que servem de pretexto para fundamentar teoricamente a possibilidade de uma metodologia que visa demonstrar que a ‘experimentação’ e os seus ‘resultados’ constituem, em si mesmos (e por si mesmos) um ‘processo de investigação’. Ricardo Pistola apresenta-nos as suas ferramentas teóricas: “Draw in define o campo de acção onde to draw (como verbo) é abordado como uma acção presente; e drag é o processo que opera através da proposição to model”. Por outro lado, apresenta-nos os seus procedimentos metodológicos, ou melhor, a sua experimentação metodológica: “the action is repeated through the proposition drag to model, made in order to inform and, to translate through visual means the result of the interaction of subject (researcher) and his or her material.” E assim ficamos esclarecidos quanto à definição e papel metodológico desempenhado pela noção de autoridade na possibilidade de transformar experimentação em investigação: “authority is construed as a power relation present in scenarios of interaction. (…) The notion of authority, (…) is perceived as the force bounding the research.” Em suma, vemos neste ensaio visual como, através da noção de autoria ou autoridade, se afirma (ou confirma) a potência de um impensável da arte (e dos modos de criação-experimentação artística) que, em última instância, se traduz numa impossibilidade de pensar uma educação artística capaz de problematizar a noção de autoria ou autoridade como padrão regulador – ou espécie de homeostasia – da nossa prática (e da nossa própria existência) enquanto artistas, professores ou investigadores. Talvez seja tempo de transformarmos a repetitividade desta noção – que é, também, a estrutura estruturada e estruturante dos nossos modos de subjectivação – num objecto de investigação. Isto é, partindo do princípio que podemos (ou queremos), de facto, mudar alguma coisa nas nossas mentes. Ricardo Pistola confirma: “To draw is conceived as private affair in the sense that it is contingent to the research context. As a society we always try to understand each other and work within rules upon which we agree”. É nesse reconhecimento das regras que efetivamente tornam possível o experimento enquanto entidade fenomenológica autónoma controlada pelo investigador, que o atelier do artista se transforma no laboratório do cientista: “notwithstanding, repetition can only be ensured in the experiment if it is conducted within a close environment where the phenomenon is defined in terms of chosen factors”.
Tendo como horizonte de expectativa ‘ajudar os artistas a alcançar um melhor entendimento da cor e de si mesmos’, o experimento Lab Color Sense: a new approach to color desafiou um grupo de estudantes de pintura da FBAU P a analisarem a sua percepção cognitiva da cor na sua prática de pintura. Por sua vez, os ‘resultados’ foram analisados pela investigadora a partir da aplicação de questionários aos estudantes e através de registos fotográficos e vídeo das sessões de discussão que tiveram lugar a seguir ao experimento. Do contacto entre estudantes e cores (um estudante, uma cor) resultou a constatação: ‘generally, there are different emotions caused by these two kinds of perceptions: Visual Perception and DOP [Dermo-Optical Perception]’. Partindo do principio de que ‘a cor’ é ‘o aspecto mais imediatamente visível da pintura’ e ‘a preocupação estética essencial de muitos artistas’, Susana Ribeiro reconhece, no entanto, que foi o seu próprio ‘fascínio pela a dinâmica de causa/efeito, repulsão/atracção excercido pela cor’ que a impeliu a uma ‘inevitável reflexão’ sobre o ‘diálogo entre corpo e cor’ que ocorre na ‘prática criativa da pintura’, e no qual a pintura é o ‘meio de produção de conhecimento’. Porém, o seu interesse não está tanto na pintura enquanto ‘produção de conhecimento’, mas no ‘comportamento interactivo’ ou ‘processo reflexivo’ (auto-conhecimento, auto-experiência, auto-análise) que decorre dessa prática. Susana quer compreender a ‘sensibilidade cognitiva’, ou seja, aquilo que se esconde ‘por detrás da interacção entre corpo e cor’ durante o ‘processo coletivo da pintura’ enquanto ‘prática’ e ‘introspecção’ sobre a cor: “the union body/mind/spirit is the fundamental basis of this experiment”. Segundo a investigadora, as questões que a cor desperta no ser humano acerca das ‘relações entre corpo, mente e espírito’ são cruciais não apenas para ‘um real entendimento da verdadeira grandeza da cor para cada individuo a ela exposta’, como para a ‘criação de espaços de reflexão, liberdade e autonomia na prática da educação artística’ que, por sua vez, tornam possível ‘a construção de um conhecimento heterogéneo’ capaz de transformar ‘a escola’ num espaço que vai para além da ‘mera transmissão de conhecimento’. Dito de outro modo: “it is essential that schools recognize their students’ right to their own experiences and perceptions (…). Only through a reflexive activity on the process of training and learning, is the educator allowed to build their knowledge, crossing theoretical and practical experiences”. Porém, é com base na possibilidade de demonstrar as potencialidades metodológicas da ‘reflexão sobre a prática’ ou ‘reflexão na acção’ – entendida como valorização da “naïve curiosity” ou capacidade do aluno em ‘voltar-se sobre si mesmo’ e, em última instância’, ‘tornar-se crítico’ –, que o experimento (e o próprio artigo) visa confirmar “the basic principle of reflective learning as critical role of emerging challenges to the act of knowing in action” [itálicos meus]. Concentrando-se nesse ‘processo cíclico de acção-reflexão-acção’, Susana Ribeiro observa: “a world of natural and cultural phenomena waiting to be seized exists outside of us. The interaction with all that exists outside of us constitutes an objective and sensitive world.” É também sob este ponto de vista, simultaneamente objectivo e sensível, que Susana enquadra o seu ‘estudo de caso’ – e a sua própria ‘atitude’ enquanto ‘mediadora’ e ‘investigadora em acção’ –, num ‘processo metodológico’ que designa como “action research through experience”. Este permitiu-lhe ‘observar’ e ‘registar’ todos os processos de ‘interação/observação/gravação da análise enomenológica da percepção relacionada com a cor’, sem outra ‘ambição’ que não fosse a de ‘descrever esses processos com a maior precisão possível’. Nas suas palavras: “this action research attempts to abstract oneself from their own experience, wherein the methodological process was to investigate how students create their own methodology which led their actions/experiences with color. It is a circular movement, an evolutionary spiral which results in knowledge increasingly comprehensive and extensive. In this process, the methodology, as an individual creation, is not replaceable or teachable, instead it consists of procedures that generate a methodology. The importance of this project is assigned to the experience of color by painting made by students, in order to interact with the phenomena and try to understand it” [itálicos meus]. Sendo esse espaço onde tudo se torna possível – situado entre o comportamento interactivo, a introspeção, a curiosidade ingénua, a análise fenomenológica, a actividade reflexiva, a ação do pensamento, o conhecimento através da acção, etc. –, a ‘auto-expressão artística’ revela ‘os aspectos do eu’ ao mesmo tempo que nos conecta com as nossas ‘emoções’ e oferece a possibilidade de ‘transformar a prática educacional’. Sem necessidade de mais palavras para explicar as ferramentas e os lugares a partir dos quais vemos-fazemos-escrevemos ‘o mundo’, continuamos, assim, nesta espécie de movimento circular ou espiral evolucionária que sistematicamente nos mantém na impossibilidade de pensarmos a nossa experiência como conhecimento (ou vice versa?).
Ecoando o “soundbyte: primeiro o fazer e só depois o entender” – cuja recorrência parece constituir, mais do que um mote, uma espécie de banda sonora para a investigação em educação artística –, Homo Musicalis: Retrato do Homem-Músico com vista para a Escola e para o Mundo, entre o proviso e o improviso, entre o determinado e o indeterminado é o único artigo a surgir assinado nesta Derivas em regime de co-autoria por Mário Azevedo e Rui Leite. O texto confronta-nos (ou confronta-se?), precisamente, com os impensáveis da nossa experiência escolar e o desconhecimento de nós mesmos (e da nossa história) enquanto sujeitos produzidos pela escola, a partir de um “território do sensível”: a música. Começando por traçar como objectivo a possibilidade de “observar as razões que levam à marginalização e ao afastamento precoce dos conceitos de improvisação, indeterminação e acaso” nos “currículos escolares e métodos pedagógicos” da educação musical, os autores declaram a sua “responsabilidade” nessa “empresa de improvisar” e – “a quatro mãos e a duas vozes” – explicitam o objecto da ambição histórica (ou historiográfica) que os anima na sua “breve análise sobre os processos de ensino/aprendizagem da música” em Portugal: “o porquê de, na sua caminhada evolutiva, o Homo Musicalis vacilar entre proviso e improviso, entre determinado e indeterminado e entre acaso e necessidade”. Mas é sob o imperativo ético e político do presente que os autores, por um lado, observam esse objecto desconhecido – o Homo Musicalis – e, por outro, fazem emergir o seu desconhecimento no presente como um problema de investigação: “a urgência de reforçar a presença dos conceitos supracitados enaltecendo assim o aberto que nos habita”. Mas é, sobretudo, um paradoxo – para não dizer, um desconforto – que encontramos desde logo na origem dessa possibilidade de pensarmos a figura do Homo Musicalis como um ser “ao lado ou mesmo dentro do Homo Sapiens Sapiens” mas, sobretudo, como uma espécie de “constructo” das escritas que, ao longo do tempo, visaram produzi-lo enquanto tal, e inscrevê-lo na realidade escolar como impossibilidade. Tal como os próprios autores constatam, “em jeito crítico”, na introdução ao texto: “enquanto educadores e pedagogos musicais parece-nos fundamental dar conta do conforto que é imaginar a improvisação, o acaso e a indeterminação como parceiros fundacionais e seguros. (…) Espantados e consternados ficamos quando os pressupostos anunciados raras vezes são expostos nos bancos de escola (…) e, quase sempre, afastados desses mesmos currículos”. Enquanto protagonistas desse aberto que nos habita, a improvisação, a indeterminação e o acaso enaltecem, segundo Azevedo & Leite, “as respostas a dar à singularidade de cada um” e, ao mesmo tempo, dão-nos “uma resposta efetiva ao apelo polifónico da vida”. A prova de que “não estamos sós no que fazemos e pensamos”, surge naquela que é a constatação – e, porventura, a grande evidência repetida por quase todos os artigos presentes nesta Derivas – que nenhum de nós, professores, artistas, investigadores, ousa questionar: “os currículos mais não são do que a evidência da vigilância que nos tolda a liberdade, nos manieta e nos transforma em atores/vítimas ‘voluntárias’ do inferno do igual”. Ou seja, ainda que sejamos capazes de imaginar respostas para as dúvidas e ansiedades que ciclicamente assolam (ou assombram) a nossa existência – ficcionada por nós –, ainda não somos efetivamente capazes de colocar em crise (ou em vias de extinção) os “ingredientes alquímicos” que ativam em nós “a consciência de nós mesmos”, ao mesmo tempo que operam a ‘naturalização de um discurso comum a todos’. Será que algum dia os nossos cérebros conseguirão finalmente atingir um estado de evolução natural (ou iluminação transcendental) que nos permita pensar a educação artística na sua possibilidade de devir coisas diferentes daquelas para que foi inventada: “uma tábua de salvação – acto salvífico”, “um exercício reflexivo sobre as narrativas e as roupagens que vão vestindo quem somos e o que fazemos”? Será que algum dia poderemos devir outra coisa que não o “homem-que-aí-vem” ou o “homem idealizado enquanto personagem universal”? Talvez haja esperança…até porque, “como sabemos hoje, não há um homem único. Há sim, homens e no plural”. E também já há, cada vez mais, mulheres…
Em Discursos educativos em museus: Práticas e discursos educativos do Museu do Douro_o projeto BIOS, Marta Coelho Valente propõe-se discutir a possibilidade de um “museu contemporâneo, artístico ou não” que, para além de poder ser “um espaço de legitimação”, “exibição”, “conservação”, deve ser “cumulativamente” encarado como “um espaço de experimentação”, “investigação” e “produção de conhecimento partilhado” e “transformação social”. Mas é a partir de um enquadramento institucional específico – o Serviço Educativo do Museu do Douro – que Marta territorializa os seus próprios “modos de pensar os públicos” e respectivas “possibilidades de participação” e “envolvimento” nas “estruturas culturais”, devidamente “integradas nas políticas e práticas culturais e educativas”. Corporificando os valores subjacentes à “missão” do referido Museu, as práticas educativas dobram-se e desdobram-se no interior do discurso da “preservação”, “divulgação” e “investigação” do “património cultural” e da “promoção da participação da comunidade” no “encontro com o território e a paisagem”. É também nesse filão discursivo que emergem as “possibilidades pedagógicas onde convergem, de uma forma inesperada, várias áreas do saber, práticas artísticas contemporâneas e o subjetivo”. Mas é “a partir da exploração teórica do princípio de participação” e “suas potencialidades na relação das instituições com os públicos”, que Marta define “um posicionamento” para a sua “investigação”, que começa por dar conta de uma realidade paradoxal: por um lado, a contemporaneidade de um discurso (ou, mais propriamente, de uma retórica) que celebra “o abrir-se às comunidades” e “às diversas subjectividades” como condição de sobrevivência e sustentabilidade do próprio museu enquanto instituição de utilidade pública (mesmo quando responde a fins particulares ou privados) e, por outro lado, a constatação de que “muitos projectos educativos implementados carecem de proximidade com o contexto que os envolve e evidenciam dificuldade em responder às necessidades dos cidadãos, afirmando discursos ainda carentes de significado efectivo para as pessoas”. Resumindo: embora nas últimas décadas se tenha acentuado, do lado das instituições culturais (e respectivos serviços educativos), o “esforço em tentar transgredir os tradicionais modelos de transmissão unilateral de um saber específico, de carácter hegemónico e colonialista” (de modo a “dissipar a fissura existente entre públicos e museus”), na realidade verifica-se que a “distância” entre aquilo que os museus pretendem e aquilo que eles significam para a maioria dos cidadãos, acabou por tornar-se num “abismo”. É no meio desta contradição – que assombra “o lugar do educativo nos museus” [itálicos meus], acabando por funcionar como uma espécie de posicionamento metodológico da investigação – que Marta se propõe revisitar as propostas educativas implementadas pelo Serviço Educativo do Museu do Douro, particularizando o projecto BIOS (desde 2011), e suportando-se numa “leitura analítica dos documentos produzidos pelo Museu” (desde 2006). Mas é precisamente aí, nessa “leitura analítica”, que as fissuras, as distâncias e os abismos entre as nossas teorias e as práticas concretas com que as incorporamos naquilo que fazemos se revelam, e o posicionamento do investigador perante aquilo que investiga, se esclarece: “será pertinente realçar que a análise estabelecida surge do que se pressente dos documentos analisados, devendo-se ressalvar que, de forma natural, tais documentos reflectem sempre uma imagem do que se faz” [itálicos meus]. Daí, também, a nossa impossibilidade – enquanto investigadores – de pensarmos o “lugar do educativo” (artístico ou não), como “um lugar que investiga e se posiciona política e criticamente no contexto onde reside e onde atua” [itálicos meus]. Se investigar é, antes de mais, construir uma “paisagem”, então como poderemos “entendê-la como tal” se não questionarmos, antes de mais, “quais os valores, os métodos, os modelos através dos quais a olhamos”? Será que não estamos sempre a correr o risco de, ao “mergulhar nas singularidades do eu e das coisas do mundo”, irmos parar aos mesmos “lugares que passamos todos os dias e não vemos com atenção”? De que serve perguntar “que espaço existe para uma participação efectiva?” se nós mesmos (enquanto educadores e investigadores) não estivermos implicados nesse trabalho que consiste em colocar em perigo o nosso próprio lugar nesse “discurso desconstrutivo” que “traduz uma atitude reflexiva e crítica em relação aos modos de pensar e agir no campo educativo”?
Sob a forma de três ensaios fílmicos que escapam à “linguagem fílmica convencional” para encaixarem na categoria de “obras híbridas”, Play/Stop: Discursos sobre o Contemporâneo explora “a questão: como pensar o contemporâneo através da imagem?” a partir da possibilidade de, por um lado, “problematizar o dispositivo cinematográfico no que diz respeito ao seu regime histórico e conceptual” e, por outro, identificar “novas formas de pensar a imagem” como “jogo” ou “teia de relações enunciativas, discursivas e sensoriais”. Tendo em mente o “diálogo entre cinema e as artes plásticas”, Daniela Rosário procura questionar as “articulações e plasticidades” que as “obras” de Aernout Milk (2009), Sharon Lockhart (2008) e Sarah Wood (2014) tornam possíveis ao ativarem no “visitante” e/ou “espectador” (?) a sua própria disposição para construir “a obra enquanto se identifica e a significa”. Dizer que “é a leitura que se faz da obra que a transforma”, é admitir a imagem como uma superfície cuja legibilidade é sempre provisória e circunstancial: “‘history is what we are making right now’ (I’m a spy, 2014)”. Mas é sobre–tudo o ponto de vista a partir do qual lemos (ou vemos), que faz com que “a obra” transforme (ou não) o nosso próprio pensamento. Embora de uma forma contida e arbitrária, este texto fecha o círculo iniciado no artigo de Ana Cristina Dias ao retomar a questão da inescapabilidade do corpo ao “diagrama de relações” de poder disciplinar que o constituem como imagem, representação, presença, resistência e pertença, e ao chamar a atenção para a “natureza política da experiência estética” que faz desse corpo a sua seta e o seu alvo, o seu arquivo ou receptáculo, a sua superfície de inscrição e problematização. O corpo (tal como as imagens que o representam ou apresentam) é essa plasticidade, sempre moldável, consoante as forças do olhar que dele se apropriam. Às páginas tantas, a possibilidade de responder à pergunta inicial acaba por se diluir numa outra pergunta, sem que alguma delas tenha sido questionada na própria escrita: “Will art always remain a fiction, or can it, in fact, generate societal change?”. Mas é a pergunta seguinte que deixará, indefinidamente, a sua possibilidade de resposta em aberto: “Que relação têm estas imagens com a minha contemporaneidade?” Prolongando e torcendo esta mesma pergunta: que relações têm entre si todos estes artigos aqui presentes nesta Derivas, e qual o conjunto de questões por eles levantadas quanto aos modos de investigar-escrever-pensar a educação artística na contemporaneidade?
Helena Cabeleira
Como citar:
Martins, C., Almeida, C., Paiva, J. C. de & Assis, T (Eds.) (2017). Derivas - Investigação em Educação Artística | Research in Arts Education, (3). https://doi.org/10.24840/2183-3524_2017_3
Sobre Derivas
A revista Derivas é uma publicação de carácter semestral dos programas de Pós-Graduação em Educação Artística da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e do Núcleo de Educação Artística do i2ADS – Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade. O objectivo é publicar artigos inéditos, sujeitos a revisão cega por pares, possibilitando um espaço de divulgação de investigação em educação artística. Pretende-se criar um espaço de confronto de perspectivas, que contribua para a problematização e para o debate das tensões existentes nesta área. A revista é aberta à participação de investigadores, de mestrandos e doutorandos e a profissionais ligados à educação artística num sentido abrangente.